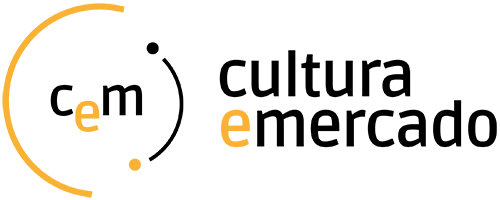O que é uma cidade? Muitas podem ser as definições e respostas a essa pergunta. Antes vista como um espaço delimitado por traçados geográficos, como um conjunto de lugares com existência física, por meio de sua materialidade, a cidade revela-se agora tempo, espaço, memórias, identidades – suporte para experiências individuais e coletivas dos sujeitos, repleta de simbologias, buscando suas singularidades e suas representações.
 Mesmo já sendo a cidade local de criação e fomento culturais, a dimensão central do papel da cultura começou a ser assumido apenas em um contexto mais recente e global. Foi a Agenda 21 da Cultura o primeiro documento que estabeleceu as bases de um compromisso das cidades e de seus governos para o desenvolvimento cultural. Aprovada em 2004, em Barcelona, durante o Fórum Universal das Culturas, foi adotada pela organização internacional Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) como documento de referência para cidades, governos locais e redes de todo o mundo “comprometidos com os direitos humanos, a diversidade cultural, a sustentabilidade, a democracia participativa e a criação de condições para a paz” e que colocam a cultura no centro de seus processos de desenvolvimento.
Mesmo já sendo a cidade local de criação e fomento culturais, a dimensão central do papel da cultura começou a ser assumido apenas em um contexto mais recente e global. Foi a Agenda 21 da Cultura o primeiro documento que estabeleceu as bases de um compromisso das cidades e de seus governos para o desenvolvimento cultural. Aprovada em 2004, em Barcelona, durante o Fórum Universal das Culturas, foi adotada pela organização internacional Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) como documento de referência para cidades, governos locais e redes de todo o mundo “comprometidos com os direitos humanos, a diversidade cultural, a sustentabilidade, a democracia participativa e a criação de condições para a paz” e que colocam a cultura no centro de seus processos de desenvolvimento.
Não sendo apenas a ocupação de um território, o sentido de uma cidade pode fazer-se presente por meio de diferentes elementos, sejam eles visuais, sonoros, arquitetônicos, esportivos, culturais; é tão heterogêneo quanto os grupos sociais que a habitam e tem tantas representações quanto se permitam novas leituras da cidade.
Apesar – ou por causa – desta variedade de apreensões sobre a cidade, procura-se sempre por seus aspectos distintivos, por qualidades únicas, por traços que a destaquem e que, por fim, deem à cidade sua chamada identidade.
Tenta-se, então, produzir uma imagem exclusiva da cidade, fruto de uma cultura própria e particular. Para isso, somada à sua materialidade, incluem-se as manifestações culturais, que compõem a programação artística como mais um dos seus aspectos singulares e pitorescos.
No Brasil, a partir dos anos 1930, a necessidade de estabelecer uma identidade para a nação conjugou-se com a estruturação de ações de preservação do patrimônio material de algumas cidades. É dessa época a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN. Em 1938, foram tombadas as cidades brasileiras de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Serro, Tiradentes e São João Del Rei, destacadas por seus conjuntos arquitetônicos e urbanísticos e por serem exemplos da arquitetura colonial mineira, compreendida como matriz da arquitetura brasileira.
Outras cidades foram e estão sendo tombadas pelo atual Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional – IPHAN, sempre levando em conta o objetivo de “preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição e/ou descaracterização de tais bens”.
As mais conhecidas são Paraty, no Rio de Janeiro; Brasília, no Distrito Federal; Goiânia e Goiás, em Goiás; São Luís, no Maranhão; Olinda, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. Em quase todas elas, o destaque é para o denominado Centro Histórico.
As cidades históricas são assim definidas pelo IPHAN:
As cidades e os núcleos históricos representam as referências urbanas do Brasil […] São sempre cidades tradicionais, marcadas por cenários urbanos diferenciados, relacionados com manifestações culturais tradicionais e com eventos históricos […] Cidades históricas são lugares especiais de uma nação e sua valorização deve ser assumida pela sociedade e pelas diversas instâncias do governo […] Atualmente, são 77 conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN em todo o território nacional, lugares que fazem parte da história do país e constituem a base do patrimônio cultural brasileiro que precisa ser preservado para que as gerações futuras possam vivenciá-los.
Contemporaneamente, além da conservação, cidades cujo patrimônio urbano é tombado passam por processos de intervenção, aos quais urbanistas e poder público denominam de requalificação, reabilitação, revitalização e refuncionalização, somados aos procedimentos de restauração, recuperação e reconstrução por que passam monumentos, prédios e edifícios tombados. Não raro, esses projetos de reabilitação vêm acompanhados da retirada da população mais pobre desses territórios, no intento de abrir caminho para novas paisagens.
Hoje, em muitas das cidades históricas encontramos o processo de refuncionalização, por meio de uma nova conformação espacial e reordenamento dos usos de seus patrimônios, determinantes nas estratégias públicas e privadas de sua valorização turística.
Como exemplo dessas estratégias, e parte integrante do Programa da Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, encontra-se o PAC Cidades Históricas, “ação intergovernamental articulada com a sociedade para preservar o patrimônio brasileiro, valorizar nossa cultura e promover o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos”.
Muitas das ações, governamentais ou não, relativas à preservação e revitalização das cidades históricas confrontam-se com questões contemporâneas, tais como “o desenvolvimento urbano, a mercantilização, as indústrias culturais e o turismo”, conforme García Canclini em seu artigo O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional publicado na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. no. 23 de 1994.
O desenvolvimento urbano suscita embates com a manutenção do patrimônio principalmente em relação aos assuntos de mobilidade, transporte, moradia, deslocamento de moradores. Em tempos mais recentes, essas questões deixaram de ser vistas apenas como decisões governamentais sobre conservação e preservação de patrimônios. Começa-se a entender a necessidade de participação de grupos sociais nas deliberações e na efetiva apropriação desse patrimônio, para que encontrem nele significados de pertencimento e possam realizar escolhas que resultem em sua defesa e sustentação.
A mercantilização do patrimônio leva, algumas vezes, à sua exploração indiscriminada, tendo como exemplos a especulação imobiliária que o utiliza para valorizar o espaço em que está situado; a degradação urbana causada pela presença desordenada da indústria e do comércio em regiões patrimonializadas; as mudanças estruturais e funcionais do patrimônio, principalmente o arquitetônico, visando à rentabilidade.
Sob a ótica de Canclini (1994), a indústria cultural e os meios de comunicação tornaram-se “recursos-chave para a documentação e a difusão da própria cultura” e, com isso, reformularam os problemas do patrimônio, com as possibilidades de sua difusão e espetacularização por meio das tecnologias de comunicação. Museus, monumentos, obras de arte, cidades inteiras podem ser vistas pela televisão ou pela internet; a mudança nos modos de circulação e de consumo culturais está, aos poucos, modificando a concepção de patrimônio e reconfigurando práticas e relações sociais nas quais ele está inserido.
Na perspectiva do turismo, o patrimônio – material e/ou imaterial – é forte referência e influência nas dinâmicas de oferta e procura de destinos turísticos, conjugado às manifestações artísticas. Ambas, história e cultura, atuam sobre o espaço urbano e sobre a produção do imaginário, formando um dos conjuntos determinantes para a diferenciação de uma cidade.
A apropriação que diferentes grupos sociais fazem dos patrimônios culturais é desigual, assim como são desiguais suas condições econômicas, sociais, culturais. Já foi amplamente discutido o quanto situações na família, na escola, no trabalho, nos grupos de sociabilidade e os meios de comunicação colaboram para as escolhas e práticas culturais.
O sentimento de pertencimento da comunidade com o território se estabelece quando, para além da apropriação de um espaço, desenvolvem-se valores que ligam esse espaço à identidade cultural e simbólica de quem o habita ou visita.
Ante a construção da cidade histórica como modelo estético e simbólico da cultura brasileira, é preciso que a sociedade entenda sua participação através da experiência vivida, de suas manifestações imateriais, as religiões, as festas, das identidades heterogêneas e da possibilidade da apropriação coletiva do patrimônio, para além das práticas governamentais.
Portanto, os que incentivam e apoiam a centralidade do papel da cultura produtora da cidadania devem promover a utilização efetiva do espaço público, a real participação social, para evitar o congelamento das cidades, para que elas não se transformem em lugares em que apenas se conservem o sentido cenográfico das edificações, e que delas sejam retiradas as funções que mantêm vivas suas tramas e tessituras.
*Este artigo é uma versão reduzida de texto publicado no livro Panorama Setorial da Cultura Brasileira – 2ª edição. Leia na íntegra no site www.panoramadacultura.com.br.