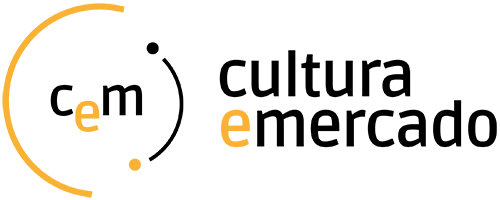Uma entrevista com Olgária Matos, professora e referência mundial em filosofia: “O maior financiamento em um país pobre em desenvolvimento e culturalmente debilitado tem que ser em educação, cultura e saúde. As outras áreas vão para o segundo plano”
Olgária Matos é daquelas professoras que já não existem mais. Freqüentei suas aulas na Filosofia da USP durante um tempo e talvez delas trago a única boa experiência dessa relação vertical existente entre professor e aluno. Não porque Olgária, uma das referências da filosofia mundial da atualidade, insistisse nessa relação hierárquica, mas porque suas aulas entupidas de gente de todos os cursos e faculdades da USP, traziam luz e inspiração para a vida de muitos ao mesmo tempo. Aquele sentimento de crença no ser humano, na educação, no pensamento, é algo que ainda trago comigo.
O tempo passou e o antropólogo italiano Massimo Cannevacci apresentou-me Olgária. Desde então não deixo de buscar suas orientações para aquilo que estamos pensando e fazendo em termos de políticas culturais, ainda que de forma natural, desinstitucionalizada. A conversa a seguir transpõe alguns elementos dessas inquietações e traz a visão da filósofa sobre políticas culturais, educação e o Brasil na ordem mundial:
Leonardo Brant – Como as políticas culturais podem contribuir para a consolidação de uma democracia?
Olgária Matos – Deveríamos pensar a questão da democracia concomitantemente às questões da educação, porque ambas têm a função de produzir coesão social e bem-estar entre as pessoas. Todas as grandes religiões, as grandes obras literárias, a filosofia, a ciência e todos os esforços de pensamento têm o sentido de elaborar o nosso mundo interno, nossos medos e nossas esperanças, produzir sociabilidade, uma vida compartilhada de bem-estar. A cultura não é uma superfluidade que se acrescenta como um entretenimento apenas. Os bens culturais, a literatura, a pintura, as diversas formas de arte e de cultura são também entretenimento, mas elas têm esse elemento de elaboração, de imaginário, de sensibilidade de uma época que é importante para criar laços de convivência e harmonia consigo mesmo ou algo como auto-conhecimento. É essencial para uma democracia, e a gente deve caracterizar também o que entendemos por democracia. Eu faço uma pequena digressão: a democracia é um conceito que se desgastou a tal ponto que falamos em democracia escolar, democracia econômica, democracia popular, que é um pleonasmo. A palavra já está um pouco castigada. Se entendemos por democracia uma forma de convivência entre as pessoas, de maioridade política, onde cada um é emancipado porque capaz de refletir por si mesmo, tirar suas próprias conclusões dentro de um espaço comum, se é essa democracia a livre circulação das opiniões, dos interesses, o enfrentamento dos conflitos, a possibilidade de todos serem iguais porque todos são igualmente legisladores, aptos a instituir direitos e exercê-los, todos dependendo de uma lei comum, poderemos pensar a cultura como fortalecendo esses laços de inserção na sociedade e que a fortalece espiritualmente, porque na sociedade culturalmente frágil uma democracia não é viável. A democracia, quanto mais fraca for culturalmente uma sociedade, fica mais ao sabor dos conflitos que se estabelecem dentro dela. Torna-se refém desses conflitos em vez de ser a forma de resolução desses conflitos.
LB – Você falou de uma espécie de aproximação entre as políticas de cultura e de educação. Venho pensando bastante sobre isso e tem uma análise de que as políticas de educação fracassaram, principalmente as do ensino fundamental, do projeto de alfabetização que a gente está tentando implementar sem sucesso, mas também a educação complementar superior, etc. Simplesmente não conseguimos implementá-las. Por outro lado temos o Paulo Freire, que é referência no mundo inteiro. Os elementos que ele colocou para se construir um projeto de educação estão sendo utilizados na Alemanha, França e vários outros lugares mundo afora. E o Brasil não consegue sair dessa questão, por exemplo, da centralização das políticas de diretrizes curriculares, que acaba impondo uma visão homogênea e linear para demandas comunitárias diversas e complexas. Como é que a gente pode pensar projetos de cultura e educação nesse sistema? Existe a possibilidade de sabotá-lo, transformando as escolas em espaços comunitários autônomos? É possível pensar nisso como uma saída para a educação? Ou na verdade corremos o risco de transformar cultura em serviço, como na educação, o que tornaria a política perversa e ineficaz?
OM – Você chama a atenção para os parâmetros curriculares nacionais. Recentemente foi feita uma pesquisa entre escolas públicas e particulares, no ensino médio. Eles colocaram em cima da mesa da professora textos de poesia, textos de jornal, contas de luz, balanços de empresas, várias coisas escritas e pediram para os estudantes separarem o que era literatura do que não era. A maioria deixou intacto o monte de papel, e disseram que tudo era igualmente chato. Até aí tudo bem, porque não lhes foi ensinado a entender o que é leitura, qual o sentido de você freqüentar as obras de pensamento. As professoras, ao dar entrevista sobre essa pesquisa, disseram o seguinte : “mas por que Machado de Assis é considerado boa literatura e Paulo Coelho não?”. Se o cidadão comum faz essa pergunta tudo bem, se é uma professora e ela não sabe perceber a diferença entre o que é uma obra clássica e uma obra de entretenimento apenas, é porque está tudo muito grave. Primeiro, o mais complexo explica o simples, mas o simples não dá conta do complexo. Quando você tem uma concepção de educação em que você a empobrece, você mimetiza o que acontece na mídia, que está pautando as escolas, os livros didáticos e também as concepções que os professores têm do que é uma formação escolar de crianças e adolescentes. Então a coisa fica muito comprometida. Eu penso que no Brasil, uma das razões pela qual estamos nessa situação é que aqui não há uma tradição de país ligado ao mundo da escrita. Nosso iletrismo é recuado no tempo. Imagine que a universidade pública mais recente na América Latina foi a USP, de 1936. A do México é de 1532. Você tem uma coisa muito iletrada no Brasil, uma concepção de educação que valoriza o iletrismo funcional e um achismo com a questão da linguagem e da escrita de tal maneira que há quem considere preconceito social você corrigir uma criança ou adolescente. A começar que no Brasil você não pode reprovar quem tem desenvolvimento insatisfatório. Em qualquer lugar do mundo você vai pra escola pra aprender. Se não for para isso, se for para dar um pouquinho de alfabetização, então não é preciso ir à escola. Penso que o Brasil ainda tem uma concepção de tudo um pouquinho e já está bom! Um pouquinho de literatura, um pouquinho de gramática, um pouquinho de saúde, um pouquinho de lazer está bom, pouco é bom. A educação e a cultura não funcionam assim, ou é tudo ou não existe. Então eu penso que a questão da educação fica grave porque o fortalecimento cultural precisa que você forme as crianças desde pequenas, em que elas vão aos poucos e positivamente convivendo com o mundo da cultura, para ter familiaridade com isso, para poder depois escolher o que ela gosta e o que ela não gosta, e não ficar passiva adotando padrões que ela não escolheu, em que ela nem sabe o sentido daquilo que ela conhece e imagine o que ela desconhece. A questão do que é utilizado como textos de base…você não vai dar numa escola o que já esta na mídia, mas o que não está nela, que são as obras de cultura propriamente ditas, as das diferentes tradições. Não são obras da alta cultura, são a cultura. Tem aquilo que é a grande cultura, que tem que ser transmitida como um bem para todos, e há aquelas obras que são de circunstância, que não ficam com o passar do tempo. O que eu vou considerar obras que deveriam ser estudadas e as que devem estar nas preocupações culturais? Essas que abarcam inclusive a cultura popular e a também a cultura mídiática, são as grandes obras da cultura que dão conta de todas as modulações da vida presente em interlocução com o passado e com a história. Como é que você sabe o que é uma obra clássica? A que atravessa a barreira do tempo. Se ela ficou, se durou, é que alguma razão forte ela tem. Por que se lê Platão há 25 séculos? É claro que uma grande obra nasce num espaço e num tempo determinados, mas também só se torna inteligível em espaços e tempos determinados, não necessariamente na época em que nasceu a obra. Então ela continua falando para nós, ela tem alguma coisa que nos explica o passado. Existe nas obras de cultura um necessário anacronismo, um entrecruzamento e simultaneidade dos tempos. O próprio Burckhardt, que escreve “A cultura do Renascimento”, responde à pergunta “o que são grandes obras e grandes personagens?”, respondendo “grandes são Platão, Píndaro, Rafael de Sanzio, mas não grandes navegadores, porque a América teria sido descoberta mesmo se Colombo tivesse morrido recém-nascido. Mas a obra “a transfiguração” de Rafael não teria sido pintada se Rafael não o tivesse feito”. Então grandes são aqueles sem os quais o mundo seria incompleto. Essas obras da história do pensamento universal é que têm que ser a formação tanto na educação quanto na cultura que dura a longo prazo. E só existe, como a Maria Benites disse, educação formal, não existe outra. Toda educação é formal, senão não haveria necessidade de escola. Se só a espontaneidade fosse suficiente para garantir formas boas de pensamento e de vida não precisaríamos da filosofia, religiões, artes,ciência etc.
LB – Pelo que você está expondo, a educação, como política pública, seria mais um instrumento de transmissão do conhecimento, de cultura. Não tem uma inversão de valores aí? Aqui no Brasil, política pública de cultura é uma política de financiamento de projetos culturais e você esta colocando cultura como todo o nosso conhecimento, tudo o que a humanidade conseguiu produzir, e educação como um serviço do Estado pra tornar esse conhecimento acessível a todos. É por aí?
OM – A cultura seria um elemento onde você vai poder desfrutar e produzir conhecimento porque você já teve a formação necessária para reconhecer valores e criar novos. É um momento em que, ao se iniciar uma criança na educação, ela já toma contato com os bens culturais de seu mundo mais próximo para depois poder admirar e respeitar o que lhe for mais distante. Sem essa formação pela educação você não vai poder criar bens culturais e se beneficiar deles, criando novos conceitos e possibilidades. Porque a criança aprende a gostar de poesia, de ciência. É uma descoberta, tudo é novo, e isso vai preparando para essa maioridade intelectual da qual a gente falava, educando para a emancipação, para ela não se subordinar ao status quo, podendo escolher, avaliar e julgar com liberdade. A cultura é esse momento de coroação de toda uma educação formadora já dentro de uma cultura de determinados valores, mas que abrem para essa indeterminação necessária que existe na aventura do pensamento.
LB – E a escola, na sua visão, seria um momento de download mas não de upload. Para termos a escola que queremos e pensamos pra construir um novo projeto de Brasil e de mundo, ela teria de ser mudada.
OM – Provavelmente, eu não sei que forma tomaria essa escola, mas seria o caso de se ter clareza se a formação humanista é importante ou não. A partir do final do século XIX, com a grande cientificização do mundo, a cultura tecno-científica atrofiou a cultura humanista. A cultura científica substitui a lei pela fórmula, a fórmula pela regra, é só uma aplicação de regras. Não é o saber que interessa, mas o know how, essa é a cultura cientifica hegemônica. É um empobrecimento, uma restrição muito grande do exercício de pensamento, das experiências de pensamento que a cultura humanista faculta, porque a ela interessam as disciplinas formadoras e não as performáticas como a científica. O problema da cultura cientifica é que ela não inclui as humanidades que lhe são incompatíveis po rque é incompatível para a perspectiva da ciência contemporânea a questão das humanidades. Até a temporalidade é diferente, as escolas e universidades não podem de maneira alguma se adequar ao ritmo das revoluções tecnológicas ou às contingências do mercado porque elas são velocíssimas, e o tempo da formação e da reflexão que é o tempo da escola e da universidade não pode ficar adaptado ao mundo externo porque senão elas se destróem em sua razão de ser. E é o que esta acontecendo: a velocidade com que você tem que ler, a quantidade de livros que as escolas impõem para supostamente criar o hábito da leitura, sem critérios definidos, recordando o que está na mídia em vez de freqüentar justamente o que não está nela…tudo te indispõe à leitura atenta e concentrada. Os jovens hoje têm cinco aparelhos ao mesmo tempo ligados, televisão, Internet, vídeo game, rádio, tudo funcionando enquanto ele está lendo, então é claro que é só dispersão, porque tudo é muito rápido, é pra fazer mecanicamente mesmo. Essa coisa de o Brasil ser um dos países que mais fracassam na compreensão do que é lido tem a ver com tudo isso, não é? Não só porque não se tem hábitos de leitura nem concentração necessária para poder sedimentar conhecimentos e pensamentos, mas porque o brasileiro tem o vocabulário muito restrito, ele fala um palavrão e engata numa gíria, e a língua falada não é gramatical, é muito pouco complexa em relação à da escrita literária. Na hora em que ele vai ler não pode entender mesmo, o vocabulário é muito restrito. Você pega a língua francesa, por exemplo. Até recentemente a língua literária e a falada eram praticamente a mesma, tem-se a impressão de que um francês, de qualquer classe social, parece um intelectual, porque a linguagem literária é complexa, tem um vocabulário muito grande, uma sintaxe interessante, uma gramática perturbante. Então é claro que você tem uma sociedade mais resistente às modas, à dessocialização, à violência.
LB – Trazendo um pouco mais a conversa para a questão das políticas culturais, você vê alguma conexão dessa realidade francesa com o que se tornou o Ministério da Cultura e das Comunicações na França a partir da presença do Malraux e principalmente do Jacques Lang? Existe uma relação direta ou não?
OM – Existe, claro, porque as pessoas são importantes para a execução de projetos e transformações. Mas a França é um país que desde o século XVII tem política cultural, que era política de estado. A revolução francesa, para a consolidação dos seus valores, com a universalização da escola pública universalizou o projeto da corte, então não houve essa coisa de a cultura media mídiática rebaixar conhecimentos para simplificar, esse preconceito anti-intelectual de que é melhor dar pouco pra muitos do que muito pra poucos. Isso na França não existiu, cultura na França é alta cultura e acabou, mas isso era uma política por que a revolução francesa tomou valores da política cultural que vinham a partir de Luis XIV. Agora obviamente existe o maior conflito na França porque há interesses de empobrecer a língua, de mudar a escola, de baratear o serviço, tudo isso que a gente vê no mundo inteiro. Mas ela vai resistir um pouco mais. A Itália também está entrando em crise, há quem queira reformular o currículo escolar e diminuir a carga horária para o aprendizado do grego e do latim, por exemplo. Esses ministérios do Malraux e do Lang foram importantes porque ampliaram a tradição do classicismo francês e não ficaram só na tradição do estado cultural francês, que era muito ligado à questão da cultura das academias de ciência e artes. Tudo muito normativo, pouco inventivo.
LB – Acho que a grande mudança ocorreu mesmo com o Mitterand e o Jacques Lang, que se tornou uma espécie de primeiro ministro, que ajudava a tomar as decisões na área da saúde, dos transportes. Isso é o que a literatura fala que foi a grande contribuição do Jacques Lang para a cultura: dar uma centralidade em termos de políticas publicas.
OM – E isso só foi possível porque você tem na França um espírito público que ainda permanece, e o que é ele numa democracia como a gente entende, as democracias ocidentais? É que todas as políticas de cunho social têm continuidade independente dos partidos no governo. Muito da cultura e a possibilidade de o Jacques Lang inovar e expandir os valores culturais pra todos os aspectos da vida em comum, a saúde, o bem- estar na cidade, passear pelas ruas tem a ver com a cultura, porque diz respeito a uma forma de convivência que seja a mais agradável possível. Então isso que o Jacques Lang faz decorre dessa continuidade da importância que a cultura tem na França. Independentemente de qualquer crise de estado, o Louvre nunca vai deixar de ter os financiamentos dele. No Brasil a primeira coisa que você corta é saúde e educação, então é um país esquisito. As prioridades não são claras e ficam muito ao sabor da economia. Eu sei que é mundial essa crença que a economia existe como um circulo fechado de fenômenos objetivos independentes da política econômica, deixando-se a economia decidir os destinos das pessoas. Essa é uma tendência mundial, mas que na França ainda não é, talvez por ser um pais que tenha tido um certo “atraso” no capitalismo, não entrando na dinâmica que esse sistema tem nos Estados Unidos. Lá, as universidades se desenvolvem no século XIX já sob a ideologia do progresso, já nascem mais voltadas para o espírito cientifico e para a política de resultados, e porque tudo nasceu já determinado pelo mercado – no caso o mercado cientifico – você tem toda uma mercantilização da ciência e da cultura nos Estados Unidos. Mas você não tem nada parecido com isso na França, em princípio devido a esse retardamento, que deu uma autonomia também para a arte que os Estados Unidos nunca conheceram. Como exemplo, a arte moderna. O que foi o Duchamps? Ele pega um objeto de consumo, que você compra em qualquer loja, sem dignidade artística nenhuma, e o transforma em um objeto único, põe num museu um vaso sanitário, por exemplo. O objeto adquire toda uma aura, porque ele tem alguma coisa que é aversiva e ao mesmo tempo ele é luminoso, uma coisa santificada e ao mesmo tempo escatológica. O que faz a pop art americana? Você pega um objeto único e transforma em objeto de consumo de massa. São aspectos completamente diferentes e interesses culturais diferentes. Claro que nos EUA a cultura tem uma grande importância, mas ela já tem os seus financiamentos privados por tradição, magnatas ou os que foram bem sucedidos em prestigio econômico ou cientifico gostam de ter os seus nomes ligados a doações. No Brasil a gente não tem a cultura da doação, nem a da esfera pública, nem a do fortalecimento das iniciativas culturais, daquilo que tem que ser transmitido porque confere identidade à tradição. Porque o Brasil também fica muito sob o impacto da ideologia do moderno, segundo a qual moderno é sinônimo de progresso e tradição é sinônimo de atraso. Isso de o Brasil ficar refém tanto na educação quanto na cultura do que a mídia diz que é pra ser transmitido…por que país que tem memória se refere à sua tradição pra fazer cultura, e país que não tem vai pra mídia, então ela tem uma pregnância no Brasil que em nenhum país da América latina tem. Aqui se ensina um pouquinho de Guimarães Rosa, depois um pouquinho de Danuza Leão, misturados com o modernismo na poesia e mais um pouco de noticias de alguma revista semanal, e assim vai. A formação fica sem perfil definido. Não forma o gosto literário nem se aprende a escrever bem e com estilo.
LB – Eu queria voltar à questão de dois modelos de política cultural que são antagônicos mas que têm a cultura como centralidade de política de estado: os EUA e a França, cada um do seu jeito. Parece que o pêndulo da política cultural brasileira vai pra cá e pra lá, o que pode tanto ser uma nova forma de fazer política cultural como também ganhar um hibridismo a ponto de ficar desconfigurado. O Gil está fazendo discussões hoje, dentro do governo e com a sociedade, que tradicionalmente não se fazia pela área da cultura. Por exemplo: a TV Digital, a agência do audiovisual, uma serie de discussões ligadas à mídia. A televisão como uma questão de conteúdo e educação é uma influência clara da política cultural francesa. Embora o Gil, ao contrário de Lang, continua alijado dentro do governo. Nas brigas intra-governo, ele é excluído de certa forma. Ele tem ocupado um espaço muito maior junto a setores da sociedade do que no próprio governo. Por outro lado temos essa tendência que é a visão de mercado, a supremacia do capital. Então no Brasil temos a Lei Rouanet, que é uma leitura tupiniquim desse modelo norte-americano das fundações privadas de cultura. Mas que aqui ganha um novo sabor, muito mais perverso até do que a política norte-americana, pois as empresas utilizam a lei para promoção de marca, comunicação empresarial com o dinheiro publico, coisa que nos EUA é inadmissível. A gente tem essas duas referências, e só consegue ser um arremedo de ambas. É possível fundar uma política cultural própria, com identidade própria nessa Babel?
OM – Deve ser muito difícil. O Gilberto Gil é isso que você disse, ele fez por ele mesmo a presença da cultura na sociedade brasileira, levou iniciativas culturais para confins do Brasil que nunca tinham visto cinema… ele tem uma visão muito generosa da cultura. No Brasil o importante é o Ministério da Fazenda e do Planejamento. A saúde não é importante, nem a educação, nem a cultura. Quando você está submerso em economia e aceitando ser determinado por ela, como se a política não devesse ter autonomia nenhuma com relação à economia… o Chico de Oliveira chamou atenção para isso, que se houvesse alguma relação entre política e economia no Brasil, os escândalos que aconteceram aqui teriam afetado a economia, mas não afetou nada. Em qualquer país civilizado esse determinado tipo de situação derruba ministro. A sociedade exige, não o jornal e o tipo de difamação, transformando indignação em arma política. Eu não estou falando da manipulação ideológica das crises, mas de quando a sociedade se sente atingida, e acho que não foi o caso da sociedade brasileira, porque não foi a sociedade que exigiu punição, e também por isso que se demora tanto a punir por que a sociedade não esta sensibilizada pra isso e está preocupada com outras coisas, está querendo sobreviver. É o metabolismo de base delas, tanto que o Bolsa Família faz o sucesso que faz. Então, dada essa conjuntura na sociedade brasileira, é claro que a cultura e a educação vão permanecer marginais. Será necessário um esforço sobre-humano de um ministério para sensibilizar a sociedade, por que senão nem essa iniciativa inicial que o Gil está fazendo vai ter continuidade. O maior financiamento em um paíss pobre em desenvolvimento e culturalmente debilitado, e sem perspectiva nenhuma de se fortalecer, tem que ser em educação, cultura e saúde. As outras áreas vão para o segundo plano. “Ah, não, não tem cultura se não tem economia”. Eu não acredito nisso, tem que fazer que nem na Grécia, primeiro se decide o que é importante pra sociedade e depois você chama os economistas pra ver como é que faz, e não o contrário. Mas nos subordinamos à economia e vamos nos adaptando e fazendo o melhor possível dentro do que é pra fazer, mas como eu decido o que eu quero fazer, cada país na sua autonomia decidiu o que quer pra si. Mas aqui é isso. A educação e a cultura ficam ao sabor do marketing das empresas, e a cultura acaba fazendo propaganda das empresas, não tendo autonomia e se comprometendo totalmente pelos interesses do que vai dar público. E o que vai dar público vai dar nome pro logotipo da empresa. Há mesmo uma perversão aí. Não existe regulamentação, não é repressão, não é policiamento, é um interesse da sociedade em relação a esses empreendimentos culturais que não são públicos de natureza, mas a sociedade brasileira ainda está muito longe de entender que ela precisa disso e ela tem que ter aquilo que possa ampliar seus horizontes de bem estar público, e o Gil tem isso, por que a cultura para ele é uma forma de felicidade, de as pessoas se sentirem melhor.
LB – Mas tem um componente também do ponto de vista de autonomia no discurso dele, de que cultura é algo que ajuda a construir o cidadão. Mas eu quero retomar um assunto que me deixou intrigado, que é você colocar educação e cultura como algo periférico nas políticas governamentais. E a educação tem um status que a cultura não tem, de indexação orçamentária, institucional, o reconhecimento da sociedade. Em qualquer pesquisa de opinião a educação aparece como prioridade, mas a cultura jamais seria apontada, não existe um reconhecimento da sociedade nem essa consolidação da cultura como elemento de política pública. Eu queria entender por que você colocou educação e cultura no mesmo balaio.
OM – Dotação orçamentária para a educação não significa a garantia de uma boa educação, nem que a concepção de educação seja interessante. Significa que as pessoas espontaneamente dizem que a coisa mais importante é educação, porque educação significa simplesmente o mínimo que uma pessoa precisa pra se dar bem na vida, então há uma ideologia de que as pessoas tendo acesso à educação vão se dar bem na vida. Por isso é que educação aparece separada da cultura, e as pessoas não têm nem idéia do que seja cultura. Quando se fala em educação a pessoa fala “ah , meu filho vai estudar e vai poder se desenvolver, prosperar e progredir na vida”, é essa a idéia, não há a dimensão que as potencialidades integrais do ser humano só se desenvolvem e têm a chance de aparecer e se pluralizar através da educação e da cultura. Então essa bifurcação é aquela que existe na própria sociedade também, porque existe no Brasil uma verdadeira devoção pela universidade. “Ah, meu filho vai pra universidade”…qualquer país em que a universidade é um bem disponível não é obrigatório ir para a universidade, e não há muita preocupaçãor em ir para lá. Mas no Brasil, depois da ditadura, como o que se queria era privatizar toda a educação do país, muitiplicaram-se as universidades privadas. Ir para a universidade se tornou ideologicamente uma necessidade. Promete-se ascensão social e acesso à cultura acadêmica, sendo que ambas são frustradas, inclusive porque a maior parte dessas univerisdades ou faculdades não se interessam por pesquisa por que antes se perguntam quanto custa. Se a educaçao básica fosse boa, qualquer um poderia ser autodidata, não precisava depender de qualquer universidade vicinal, em que você não se forma em nada, só gasta dinheiro, sai tão precário como quando entrou. Então eu penso que a educação separada da cultura é uma concepção de educação que também é pobre.
LB – Em termos de estrutura governamental, essa opção de separar cultura e educação parece equivocada.
OM – Em termos intelectuais, educação e cultura não estão separadas. A organização de orçamentos e a viabilização de projetos talvez justifique essa dualidade, mas ela deve ser somente operacional.
LB – E a questão das comunicações? Como é na França, por exemplo, onde a cultura e a comunicação formam um único Ministério.
OM – Como no Brasil há a tendência de se considerar comunicação apenas como meios técnicos, e não como conteúdo, talvez o mais importante seria que ela estivesse junto com educação, e a parte instrumental, de equipamentos tecnológicos, ficaria com o Ministério das Comunicações.
LB – Mas não seria uma oportunidade de se rever essa leitura de que a comunicação na verdade deseduca o brasileiro? 90% da população de muitos paises da América latina só tem acesso a elementos de cultura institucionalizada por via dos meios de comunicação de massa.
OM – Aqui, dada a falta de informação e de tradição letrada, a questão da mídia e sua péssima qualidade deveria estar mesmo é no Ministério da Justiça, para regulamentar as funções da mídia, que são informação, cultura e entretenimento, mas que aqui só funciona como meio de publicidade. É um desastre o que a mídia faz aqui no Brasil em termos de formação, com as crianças, e isso acaba invadindo a cabeça dos professores que vão lecionar, e depois os livros escolares, e depois a mentalidade geral. Uma mãe não acha escandaloso a filha dela ficar vendo a dança da garrafa e nem dançá-la, as professoras acham engrçadinho. Imagine se isso acontece na Argentina ou no Chile ou na Dinamarca.
LB – No encontro sobre políticas culturais realizado pela CartaCapital, ficou uma coisa muito clara na proposta do Gil, que o fortalecimento do Ministério da Cultura é um fortalecimento de uma inteligência no Brasil, e o MinC está sendo uma espécie de prestador de serviço para outros ministérios, pensando a comunicação como uma maneira de transmissão de conteúdos para os brasileiros e não só como uma questão tecnológica. Pensar a educação é pensar os conteúdos que vão ser colocados nas grades, assim como as metodologias. Ele está chamando para si essa responsabilidade e me parece que se ele estivesse isolado num Ministério à parte teria mais capacidade de fazer isso do que junto. Quando havia o MEC, a gente tinha uma política de financiamento de arte, que colocava a cultura na periferia. E essa concepção de que é a cerejinha do bolo vem daí. A educação é o grande desafio do pais, a cultura é algo pra dar mais brilho. O Gil está refundando o Ministério, criando esse centro de inteligência para pensar os problemas brasileiros e desenvolvendo essas parcerias. É uma questão que a gente que trabalha com políticas culturais sempre pensa: como garantir transversalidade, como pensar cultura nesse papel de interdependência com outras áreas, como pensar o problema de transporte, a questão da saúde. Esse centro independente poderia ser interessante, mas o desafio é esse: ele só é interessante na mão do Gilberto Gil, ou é possível institucionalizar isso?
OM – A concepção do Gil me parece muito competente. Há uma tendência no Brasil de se considerar comunicação aquilo que resulta da boa utilização dos meios tecnológicos de comunicação. Você vê nas universidades…o curso de Comunicação, para ser reconhecido na CAPES…é uma violência. Literatura não é comunicação, teatro não é comunicação, nem a música ou as artes em geral, então comunicação ficam sendo só as digitais, é uma pobreza de pensamento e de concepção. Se o Gil reverte isso, essa é a discussão prioritária, previa à outra, de o que é comunicação. A comunicação esta em tudo, não é só um instrumento de transmissão, não é só o meio, é a filosofia da palavra, da imagem. O Gil quer trazer a comunicação para a área da cultura, é isso?
LB – Ele está pensando a comunicação como transmissor de conteúdos ou de conhecimento. E está na hora de tomar decisões estratégicas para o país levando em conta esses elementos. É a questão da TV Digital. O problema não é o melhor equipamento, mas sim como vamos democratizar o acesso e o fazer cultural. O modelo japonês tem alta performance tecnológica, mas ao mesmo tempo afasta a capacidade de pequenos produtores poderem ter acesso ao fazer, à produção de seus conteúdos. E o Brasil é um pais que produz muito conteúdo audiovisual mas não consegue se ver nos meios de difusão. A gente resolveu optar por um mesmo tipo de modelo de menor performance, e com equipamento mais barato. A gente poderia ter mais acesso, mas tem os feudos que dominam.
OM – Mas o fato de o Gil ter aberto essa discussão é fundamental. Se você abre esses fóruns e esse debate acaba se fortalecendo e fazendo sentido na sociedade, isso acaba mudando. Pode demorar, mas a coisa vai tomando um formato. Quando a discussão sai do recinto fechado do Ministério e começa a sensibilizar…o Gil esta politizando uma questão no sentido mais essencial da coisa. E você tem que politizar essa questão porque ela é da pólis, ela é da cidade, diz respeito não só a uma emancipação política de se tomar os destinos na sua mão, mas também aos fins culturais. Todos vão fazer, é possível aliar qualidade tecnológica de ponta, eu acho que o brasileiro vai tão rápido..você fica com um pequeno atraso numa coisa, e na hora que você dá aquilo que é de ponta, o brasileiro ultrapassa isso de longe isso. Eu me lembro quando aqui não havia programa de computador, que se comprava tudo pronto…os professores da Poli em um dia já tinham ultrapassado tudo, então eu acho genial o que acontece no Brasil, é só uma questão de dar os meios para essa autonomia de criação e de invenção. Tudo é muito bloqueado no Brasil por causa da lei das patentes, e o país fica se subordinando, no Brasil isso limita. Pesquisa com saúde pública não tem patente não, é um bem universal. Essas coisas eu acho que o Gil faz.
LB – O Estou cada vez mais convencido de que a missão do Ministério da Cultura tem sido desenvolver o projeto de Brasil. Nesse sentido, o MinC estar lá solto, com pouca verba, sem essa atenção e essa tensão que tem o Ministério da Educação… talvez seja um oxigênio necessário no caso específico do Brasil de hoje.
OM – A inércia de Estado e a limitação das políticas intelectuais do estado brasileiro determinam políticas precárias e muito auto-complacentes que realmente destroem qualquer criatividade e qualquer coisa que possa ser forte, boa. Como no Brasil não funcionam categorias republicanas em que o bem comum é que deve dirigir decisões das políticas públicas e não os interesses financeiros e de mercado, aqui tem que ser como está sendo mesmo, pro Gil não ser bloqueado e prejudicado no que ele quer fazer. Que bom que ele tem uma situação marginal, por isso ele garante uma liberdade e uma autonomia que os outros que estão no Ministério da Educação não têm porque estão convencidos de que o que eles estão fazendo é genial, eles não têm duvidas, porque se tivessem ainda se questionariam e abririam debates com os professores universitários, os professores de primeiro e segundo graus, de escola primária e educadores e intelectuais em geral. No caso da cultura, o Gil está conseguindo fazer isso, o que é ótimo.
LB – E a questão da democracia como uma utopia, e da política cultural como um elemento transformador para se atingir essa utopia? Como você vê o papel da cultura na democracia?
OM – Eu penso que a cultura, pela natureza dela, para ela poder existir como cultura, ela tem que ser autônoma, não pode ficar ao sabor das determinações econômicas imediatas. Isso é uma característica da cultura, que é também uma das características da democracia. Se a democracia fica muito presa a determinações extra-políticas, ela se deprime. Se você faz uma democracia depender da verba ou do PIB do país você nunca vai tê-la, porque vai ser tudo muito fechado nesse tal de realismo político. A cultura é aquela coisa que não lida diretamente com o princípio de realidade, porque trabalha com tradições, com experiências acumuladas, com consciência, sensibilidade, imaginário simbólico. Pela irrealidade dela, é critica como resistência, porque ela não é adaptativa. Se ela se adapta já não é mais cultura, se subordinando a determinações que ela mesma não colocou para si. Então acho que ela tem toda relação com a democracia, que se caracteriza por dois significados essenciais: é a vida com segurança e liberdade. São as duas definições de fortalecimento dos direitos, tudo tem a ver com uma convivência em segurança e com liberdade. É mais democrático o país em que isso existe mais, mais liberdade e mais segurança. Liberdade de pensamento, de criação, de ir e vir, todas as liberdades sociais, políticas e civis que constituem a democracia com seus direitos e responsabilidades, e mais segurança e liberdade. E isso é a cultura que faz. O Antonio Candido tem um ensaio em que ele diz que o direito mais inalienável do ser humano é o direito da literatura, que deveria constar na próxima declaração universal dos direitos do homem, porque agora o que você tem são direitos da natureza, direito dos animais, então você tem que ter o direito à literatura, explicitamente. Um maior beneficio comum, onde o segredo da informação e da cultura não é produzido por alguns para só beneficiar alguns, mas sim para que o maior numero de pessoas possível possa ter acesso aos bens culturais que indiretamente a sociedade inteira produz. O Benjamim, em uma das teses do conceito de história, diz assim: “As grandes obras da humanidade, os bens culturais, não nasceram dos esforços dos grandes gênios que os criaram, mas também da anônima corvéia imposta aos contemporâneos desses gênios “. Então é pra esses que a cultura foi feita. Ees têm direito àquilo que ajudaram a produzir, e do qual não se beneficiam porque nem sabem que existe.
Leonardo Brant