“Seria possível reconhecer a incomensurável riqueza cultural, presente em cada esquina de nosso país, também como fonte de recursos? Quão utópico seria considerar o orçamento da cultura não como despesa, mas como investimento?”
1946. Finda a guerra, os países envolvidos no conflito começam a implementar planos de reconstrução e pagamento das dívidas adquiridas. Falida, a França recebe do então Ministro das Finanças dos Estados Unidos uma proposta aparentemente irresistível: a anistia da quase totalidade da dívida francesa para com os Estados Unidos, acrescida da oferta de um novo empréstimo, sob condições excepcionais. Em troca, uma pequena exigência: acesso irrestrito às salas de cinema francesas, salvo uma semana por mês. O histórico dessa cláusula se remetia a 1927, quando a França instituiu uma cota mínima de exibição de filmes franceses, como incentivo ao cinema nacional.
Poderia soar estranho, há sessenta anos, que a indústria cinematográfica de Hollywood fosse alvo de tantas benesses. Hoje, porém, os números comprovam que o fomento à expansão da indústria cinematográfica do país foi ingrediente de uma estratégia ancorada no duplo potencial, econômico e simbólico, das indústrias culturais. Comecemos pelo primeiro pilar. Segundo dados da International Intellectual Property Alliance, as indústrias centrais de direitos autorais (as que produzem e distribuem produtos e serviços protegidos por esses direitos, como edição, música, cinema, software, transmissões por rádio e TV) responderam em 2002 por 6% do PIB da maior economia do planeta (ou US$626,6 bilhões) e empregaram 4% de sua mão-de-obra. Considerando-se o total das indústrias geradoras de direitos autorais (o que acrescenta às anteriores as que delas sobrevivem, como serviços de dublagem, legendagem etc.), as cifras são catapultadas para 12% do PIB e 8,41% da força de trabalho. Fato ainda mais impressionante para uma economia desenvolvida, entre 1997 e 2001 a taxa anual de crescimento do setor foi de 3,19%, mais do que o dobro da realizada pela economia no mesmo período (1,39%).
O outro alicerce dessa estrutura é o arsenal de formação de valores e desejos dos produtos e serviços culturais. Pense rápido: o que as crianças dizem quando tocam a campainha, na noite de Halloween? Agora, convenhamos, quantos fantasminhas já bateram à sua porta? Segundo dados da Unesco, entre 1994 e 2003 a Índia produziu cerca de 700 filmes ao ano, enquanto os realizados pelos Estados Unidos não passaram de 400. Como é possível, então, que ao redor de 85% da bilheteria dos cinemas, no mundo, corresponda a filmes estadunidenses? A explicação está em sintonia com o que observamos em outros setores da economia e responde pelo nome de concentração. Basta analisar a relação de filmes em cartaz no Brasil, para ver esse dado na prática.
Revoltados diante de um torniquete que sufoca não só a produção, mas especialmente a capacidade de distribuição dos produtos e serviços culturais criados nos quatro cantos do mundo, França, Canadá e mais recentemente o Brasil, dentre outros países, trabalharam pela aprovação da Convenção pela Diversidade Cultural. Esforços recompensados, a Convenção foi aprovada em outubro de 2005, por 148 votos a favor e dois contra: Estados Unidos e de Israel. Para que seja validada, porém, é necessário que ao menos trinta países a ratifiquem, o que ainda está longe de acontecer (o Instituto Pensarte tem acompanhado de perto o movimento, divulgado em www.culturaemercado.com.br).
«Ora», dirão os céticos, «cada um escolhe ver o que lhe apraz.» Certo, mas quão influenciado é esse processo de escolha? Seria justo desconsiderar o peso mediático, as saraivadas de recursos que acompanham cada filme lançado? Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, revolucionou o paradigma de desenvolvimento, ao propor que «desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente.» Em outras palavras, desenvolvimento seria a ampliação das liberdades de escolha ou, simplesmente, Desenvolvimento como liberdade, aliás título do livro que traz a citação acima (Companhia das Letras, 2004). Em uníssono, o Human Development Report 2005 do PNUD enfatiza: “Os governos dos países desenvolvidos raramente perdem uma oportunidade para enfatizar as virtudes dos mercados abertos, as regras eqüitativas de mercado e o livre comércio, especialmente em suas prescrições aos países pobres. Mesmo assim, mantêm uma gama formidável de barreiras protecionistas contra os países em desenvolvimento. (…) “Hipocrisia e padrões duplos não são fundações fortes para um sistema multilateral de regras voltado ao desenvolvimento humano”.
Sendo esse o quadro, como a cultura pode pincelar novas tintas e cores, formando a figura do desenvolvimento socioeconômico? Seria possível reconhecer a incomensurável riqueza cultural, presente em cada esquina de nosso país, também como fonte de recursos? Quão utópico seria considerar o orçamento da cultura não como despesa, mas como investimento? Ou ainda que as empresas privadas teriam na seara de produtos e serviços culturais um fascinante filão de negócios, ainda parcamente explorado?
Destrinchemos dois pontos da cadeia de produtos e serviços culturais: produção e distribuição. Começando pela produção, viajemos a 550 km do Recife. Dizem os mais velhos que as terras de Conceição das Crioulas foram arrendadas nos idos de 1700 por seis negras livres, que ali começaram a fiar algodão. Quase três séculos depois, o binômio praga do bicudo e fios sintéticos desagregou a estrutura econômica da região, inscrevendo-a no chamado “Polígono da Maconha”. A guinada no destino da comunidade ocorreu em 2001. Inserida em um mapeamento de produções culturais das sociedades economicamente excluídas e sem acesso às agências de fomento ao artesanato do governo estadual, Conceição das Crioulas integrou um programa de resgate da cultura local que envolveu diversas manifestações culturais e democratizou o conhecimento tradicional. Hoje, o artesanato criado com matérias-primas locais garante o sustento direto de 45 famílias e, indiretamente, mantém 200 outras pessoas da comunidade. Além da inclusão econômica, o artesanato promoveu a inclusão social por meio da valorização da identidade cultural e do desenvolvimento de novos produtos ancorados no meio ambiente.
Passo dois, distribuição, um dos grandes gargalos do setor. Guaramiranga, pequenina cidade a 109 km de Fortaleza, deu início em 1999 ao Festival de Jazz e Blues. Nele, une diversidade, democracia de acesso e florescimento de uma rede de turismo e produção cultural. Em 2005, os gastos dos turistas na cidade foram superiores a R$ 3 milhões nos dias do evento (o que equivale a dez meses de arrecadação do município), contra um investimento de R$650 mil.
Outros projetos louváveis têm vencido obstáculos à venda de produtos culturais nos canais de distribuição. Além de agregarem imagem positiva à empresa e de atraírem um público consciente, essas iniciativas contribuem para a inclusão socioeconômica de pequenas comunidades produtoras. Um belo exemplo é o projeto Caras do Brasil, da rede Pão de Açúcar ou ainda a Tok & Stok, que desvendam aos olhos dos consumidores produtos do artesanato brasileiro que antes lhes eram desconhecidos. Iniciativas que comprovam que empresas e pequenas comunidades podem ter muito mais em comum do que marketing sociocultural ou investimentos sociais privados. Podem, de fato, trabalhar em uma relação de inegável benefício mútuo, tema particularmente intrigante desde o advento dos best-sellers A Riqueza na Base da Pirâmide e a Estratégia do Oceano Azul.
Em tempo: a assinatura do acordo de Blum-Byrnes, em 1946, provocou uma avalanche de protestos na França. O resultado foi a instauração de uma taxa sobre todos os filmes estrangeiros veiculados no país, destinada a um fundo de fomento ao cinema francês. Um maravilhoso exemplo de como transformar um limão em limonada. Ou ainda, de como é possível reconhecer na cultura o motor de desenvolvimento socioeconômico.
Ana Carla Fonseca Reis
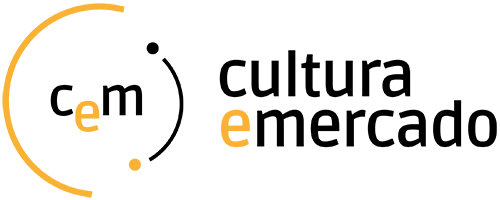
2Comentários