A nova noção de política cultural que se constrói na secretaria de políticas culturais do MinC, agora sob o comando de Alfredo Manevy, tem três dimensões: “cultura como economia, como fator simbólico, e como direito e cidadania. É muito interessante pensar essas três dimensões não como campos estanques, mas como partes de uma mesma organicidade interdependente”
Foi uma grata surpresa encontrar Alfredo Manevy e Vitor Ortiz durante o café da manhã do Hotel Amerian, em Buenos Aires, descoberto por trás dos óculos escuros, que escondia não somente a identidade, mas sobretudo as olheiras de mais uma madrugada de fechamento da outra revista, ArteCidadania.
Os dois são habitués das terras portenhas e logo me senti em casa diante do meu début argentino. Fomos logo dar uma volta e o assunto que nos move não demorou a vir. Bastidores, opiniões contrárias ou favoráveis a essa ou aquela atitude do MinC, do Governo Lula, dos agentes sociais, vinham sendo quase sempre compartilhadas. Mas sempre respeitadas. Alfredo precisou recolher-se mais cedo aos aposentos do hotel e Vitor, que já foi secretário de cultura de Porto Alegre e agora toca as Câmaras Setoriais na Funarte, logo suspirou o primeiro dos vários elogios tecidos a Manevy durante a nossa viagem para o Primeiro Congresso Argentino de Cultura: “esse cara é um grande talento. Tem uma cabeça privilegiada e é a grande promessa de futuro revelada no Ministério da Cultura”. Sua apresentação, ao lado de José Num, secretário de Cultura da nação Argentina, rendeu-lhe longos aplausos, constrangedores não somente ao seu recato, mas sobretudo ao interlocutor.
Este jovem prodígio de 30 anos foi revelado como assessor do secretário executivo Juca Ferreira logo no primeiro ano de gestão Gilberto Gil. Pegou a lufada administrativa que culminou com a queda da chamada república da Bahia. Assumiu em julho a mais complicada das secretarias, de políticas culturais, que já abrigou Paulo Miguez, que coordena o Centro Internacional de Economia Criativa, e Sérgio Sá Leitão, que assumiu a assessoria cultural do BNDES.
Manevy tem formação em cinema pela USP e doutorado na Universidade de Paris. É um dos fundadores da revista Sinopse e vem se dedicando ao cinema como crítico, ator social e professor universitário. Ele recebeu Cultura e Mercado no saguão do Hotel Hermitage, em Mar Del Plata, para a seguinte conversa:
Leonardo Brant – Bernd Fichtner, filósofo alemão da Universidade de Siegen, perguntou pra mim, após ler o meu livro Diversidade Cultura: “parece-me que quando vc fala em política pública, você está falando de política governamental. Na Alemanha, quando usado o termo política pública, fala-se de tudo aquilo que não é governamental, de tudo que já foi assimilado pela sociedade, e está protegido dos governos”. Quando ela é governamental é porque não é pública. Isso me ocasionou uma mudança de visão sobre o que é política pública…
Alfredo Manevy – Eu concordo com essa leitura. Em alguma medida ela é radical, mas dá a entender que público é aquilo que uma sociedade produz a partir de um filtro de tempo, de condições de inteligência de uma comunidade e população que têm um valor transcendente da política imediata, transcendente de uma ótica de instituições.
LB – Pensando nisso, esses pontos da política governamental que a atual gestão está desenvolvendo parecem-me ter uma preocupação muito grande em injetar esse sentido público na sociedade. Esse processo está sendo bem sucedido?
AM – Eu diria que sim, levando-se em conta o longo tempo que é necessário para certas políticas se estabelecerem. A educação no Brasil, por exemplo. Para se chegar a um consenso nacional de que a educação é uma agenda do desenvolvimento… Uma educação, que será um dos desafios de uma agenda educacional realmente contemporânea – que incorpore todos os saberes e tecnologias da sociedade. Sendo a escola um equipamento de Estado, mas que chega na ponta e que só se expressa pela ponta, que tem mais capilaridade… É um equipamento que tem uma dificuldade geral, não só no Brasil, em dialogar com a diversidade cultural. É o grande desafio agora que a cultura tem um ministério específico que reconhece a singularidade da política cultural, e que as políticas educacionais, a partir desse reconhecimento, possam se estabelecer em conjunto com uma política cultural.
LB – A minha visão em relação a isso é cética. Eu vejo que as políticas educacionais no Brasil falharam. Esse modelo de estabelecer uma diretriz governamental centralizada e implementada verticalmente nas comunidades falhou, não deu certo, não é esse caminho. Jogamos nesses últimos anos trilhões de reais e não resolvemos o problema da educação do povo. E eu vejo na cultura justamente a possibilidade de encontrar soluções de desenvolvimento a partir das pessoas, que é o que interessa , com base no que ela própria definir. Penso que a política de cultura é justamente a reviravolta desse processo, porque já não conseguimos mais fazer isso pelas políticas de educação. Pode até ser pela política de educação que a cultura vá atuar, mas dentro das políticas governamentais existentes, eu confio muito mais nos pontos de cultura do que no projeto escola aberta. A escola não representa e nunca representou os interesses da comunidade. Você tem essa perspectiva de pensar a política cultural como algo realmente relevante dentro de um aparato estatal, cuidando de grandes temas? Ou vamos continuar brigando pelo 1% de orçamento?
AM – Eu penso que uma coisa não exclui a outra. Não quero fazer uma reflexão conciliatória ao dizer isso, mas o reconhecimento de que os saberes culturais e a produção cultural – nosso cinema, nossas artes, linguagens todas, grupos culturais – que fazem trabalho de cidadania, o hip-hop, culturas populares, elas formam uma tecnologia fundamental sem a qual o desenvolvimento humano não vai se realizar plenamente no Brasil. Isso é uma premissa que me leva a duas conclusões importantes. Primeiro que a política educacional tem que ser pensada levando-se em conta isso, e que escola aberta é um modelo tão importante, em se reconhecer que o final de semana a escola tem que abrir para a comunidade, que atividades culturais têm que se desenvolver também no espaço da escola. Mas está muito longe revolucionar o modelo de educação que você está mencionando. Em alguns países europeus se combina aquilo que é universal – todas as disciplinas curriculares que são dadas a todas as regiões do país, na Suécia por exemplo – com saberes regionais e locais que constituem até 30% das atividades curriculares. Isso é muito radical, comparado com o que a gente tem hoje, e há uma total ausência disso. Você só conhece o cinema brasileiro na universidade, Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro e os intérpretes do Brasil. Os conhecemos muito tarde, somente quem tem acesso à universidade no Brasil, a minoria. É muito importante que as instituições responsáveis por essas políticas de educação e cultura, que hoje buscam reconstruir algo de institucional que foi perdido, apresentem um bom trabalho conjunto. Que coordenem ações, conceitos, coordenem um trabalho de planejamento estratégico, sob pena da cultura sempre ser uma atividade que não impacta nas principais estruturas de Estado, formadoras e transmissoras de saber, das relações sociais. São elas que negociam conflitos. Se o tema da cultura continuasse, senão institucionalmente, sendo essa cereja do bolo que é, um pouco à imagem que a gente faz desse ministério encontrado em 2003, um adorno, uma instituição figurativa, com estrutura de secretaria e não de ministério. Li um email de um cidadão que parabeniza o governo Lula por ter criado o ministério da cultura. Não, o ministério já existia, não criamos o ministério. Tentamos dar a ele uma grandeza, envergadura à altura do seu objeto que é a cultura, a diversidade cultural brasileira. A escola é uma dimensão, a outra são os pontos de cultura, eu citaria a capoeira, as feiras populares em São Joaquim, Caruaru. Citaria os mestres do saber e tantos outros exemplos de uma cultura popular brasileira ou de uma diversidade popular brasileira que pode e deve ser foco de políticas de incentivo, fomento, apoio técnico, institucional. Como no caso dos pontos de cultura e que certamente compõe um campo a partir do qual, se fortalecido, a gente vai ter provavelmente um impacto nas indústrias criativas e culturais que se alimentam, dependem e precisam da diversidade cultural, para se ter uma dose de inovação, de renovação de idéias, de dinâmica. A gente tem no cinema americano, por exemplo, uma busca permanente de um diálogo entre o que existe de economicamente mais avançado e constituído e aquilo que constitui uma inovação das áreas menos instituídas e institucionalizadas de uma comunidade. Seja através de pesquisa, no caso das economias mais avançadas – porque nesses países a cultura popular já possui um grau de institucionalização, que tem um lado positivo e um negativo, tanto as instituídas, as monumentalizadas, fixadas em instituições. No nosso caso temos um paradoxo, que é viver num país onde existem poucas instituições formadas. Isso é muito ruim em vários aspectos: quanto ao atendimento à sociedade, com políticas e instituições precárias. Mas paradoxalmente a nossa cultura conseguiu se preservar e se desenvolver apesar do Estado, muito porque nossas instituições não foram, seja no período autoritário ou nos anteriores, democráticos, capazes de absorver, tutelar e fixar essas práticas culturais.
LB – Eu penso política cultural justamente como um processo de desinstitucionalização do saber, e não o contrário. E eu vejo nos pontos de cultura, por exemplo, um grande avanço nesse campo. Essa coisa de deixar para o sujeito definir o que quer fazer, de acordo com suas práticas, tradições e contemporaneidades. No caso dos pontos de cultura, a única exceção a isso é o kit multimídia, que o sujeito recebe mesmo sem saber manejar aquilo. Existe um lado de você apresentar algo e outro de tirar um pouco a autonomia. Parece agora que mudou, ele escolhe se quer receber o dinheiro ou o kit…
AM – Ele escolhe, e pode montar o kit dele. Mas existe um valor fixo no kit, podendo dizer “quero uma câmera mais sofisticada porque eu quero fazer cinema”.
LB – Mas eu entendo que o kit é fundamental também para estabelecer a rede. É uma premissa do programa, que tem na base esse caráter de a instituição cultural ser a comunidade. Cultura não é serviço, não é educação. O Estado não está lá para oferecer esse serviço, e você vai ser contemplado, etc. Ao contrário, a solução do seu próprio desenvolvimento vem do próprio sujeito. Essa é a mudança de paradigma. Você tem na sua fala essa coisa da institucionalização. É importante o Estado estar presente, como prédio, instituição, funcionário público? Ou nos pontos de cultura você vê uma maneira de institucionalizar o próprio fazer cultural da comunidade?
AM – Penso que o papel do Estado no campo cultural é um papel delicado, complexo e contemporâneo justamente porque não é papel do Estado produzir cultura. Não é papel do Estado dizer o que a cultura deve ser, ou dirigir. Não é o papel de um Estado democrático, laico, contemporâneo, moderno. Seu papel é formular políticas públicas de cultura e disponibilizar meios que dêem acessibilidade de estrutura, em torno daquilo que a sociedade determina que é cultura. Isso me parece muito importante num país que fragilizou a sua capacidade de formulação de política pública, de maneira geral, não somente de cultura. Que as instituições dessas políticas se fortaleçam, não para substituir a produção cultural da sociedade ou orientar essa produção do ponto de vista do conteúdo, mas para potencializá-lo. E pontos de cultura pratica esse conceito. A gente vê muito enunciado por ai, é um discurso muito presente, em muitos países latino-americanos. É realmente uma conquista da governança global, a Unesco, a autodeterminação, a autonomia, a sociedade como centro e produtor cultural, e onde a diversidade cultural de fato está. Eu defendo o fortalecimento institucional e o papel do Estado no desempenho dessas políticas. Isso eu acho muito importante. Vivemos um dilema nos últimos trinta anos, entre o ter um Estado autoritário da cultura, um Estado que queria tutelar cultura e dizer pra ela ser ufanista, que deveria interpretar o Brasil de tal maneira. Depois nós tivemos um Estado democrático, que porém não enxergava grandes responsabilidades na política pública, que entendia que o melhor Estado é aquele ausente, que simplesmente observava de forma muito distante a vida cultural brasileira. Isso gerou uma série de distorções importantes, porque a cultura, mesmo reconhecendo que ela é produzida no coração da sociedade, dentro dela, ela necessita de recursos materiais, de acesso a meios. Hoje, uma dimensão importante da produção cultural mais ligada à tecnologia, a processos econômicos, depende de instrumentos de difusão, formas de visibilidade social importantes para impulsionar essas atividades. Então o Estado tem um papel a cumprir, no desenvolvimento econômico, no setor cultural, na regulação de economias da cultura, de moderação, de legislador. Ele tem um apelo no fomento, nas áreas da cultura onde os processos econômicos não são capazes por si de garantir a sua permanência e continuidade. No Ministério da Cultura, nessa gestão, a gente trabalhou em três dimensões da cultura: cultura como economia, como fator simbólico, e como direito e cidadania. É muito interessante pensar essas três dimensões não como campos estanques, mas como partes de uma mesma organicidade interdependente. A economia e a cidadania juntas significa que uma política econômica para a cultura tem que levar em conta acessibilidade, que é direito garantido pela constituição. Isso significa que a política econômica vai ter um perfil, levar em conta que a relação entre cultura e educação é importante, porque a educação e o equipamento escolar são uns dos equipamentos públicos que mais chegam na ponta. A acessibilidade passa a ser um elemento importante. Valorização do patrimônio material, do saber, do fazer da cultura popular brasileira também passa a ser um tema absolutamente relevante, chave para a política pública contemporânea. E daí voltam as interdependências entre as questões econômicas, de direito e do simbólico. Uma das questões-chave, hoje, do patrimônio imaterial brasileiro são os saberes e conhecimentos tradicionais e a possibilidade de produção de riqueza a partir desses conhecimentos; também a repartição justa da riqueza que venha a ser produzida por esses saberes, do patrimônio dos indígenas, das comunidades quilombolas, das culturas populares, saberes ligados à culinária , aos fármacos. Como pensar o desenvolvimento dessas comunidades que seja sustentável, para que a produção de riqueza a partir desses saberes tenha como destino também as próprias comunidades que lhe deram origem. Esse é um tema contemporâneo e internacional. O Brasil tem tido um papel muito importante. A gente conecta economia, produção simbólica, e conecta direito à cidadania, três dimensões que não podem ser pensadas de maneira estanque, sob pena de você fazer uma política de economia da cultura, que é uma política que simplesmente valoriza, vamos supor, empresas que atuam no mercado, uma política que não pensa a questão do acesso, da diversidade cultural, dos meios de difusão, que não pensa aspectos ligados à identidade cultural. Penso que o desafio da política pública de cultura hoje é como combinar o instituinte e o instituído numa relação de equilíbrio, complexa e delicada, onde o Estado e a burocracia estatal não sejam o centro. Ela é perigosa quando tem boas idéias sobre o que deve ser a cultura, o que a cultura é, porque geralmente o que acaba acontecendo é a tutela, ou pior, uma absorção disfarçada do conhecimento da sociedade pelo Estado, que puxa para si de forma centrípeta o conhecimento da sociedade. Ele é uma esponja que tende a puxar o conhecimento, tende a se inchar, o que é muito perigoso.
LB – Na prática, levando em conta a história da relação entre o Estado e o beneficiário da política cultural tradicionalmente, embora tenham essas mudanças que são inovadoras e tiram o Estado do foco, você não vê, por exemplo, nessa relação, resquícios de uma tradição de abordagem setorial? Nos pontos de cultura, ainda se dá a relação do Estado de transferência de recursos, os editais de cinema, ainda é uma tutela. Quais são os movimentos para que esse recurso não seja entendido simplesmente como tutela, e aqui eu coloco também a Lei Rouanet, o discurso e a atuação do ministério em relação a essa lei mudou sensivelmente, mas a prática ainda continua sendo aquela. Há o risco maior que é uma tutela que passa a ser da iniciativa privada com o aval do Estado. Quais são os movimentos que estão sendo feitos para se corrigir isso?
AM – Você tocou aqui num ponto chave. Como existe uma relação horizontal entre Estado e sociedade, porque o Estado é também uma expressão da sociedade, e a relação horizontal é uma busca difícil, permanente, que veio guiando essa gestão. É uma diretriz muito importante. Pontos de cultura, por exemplo, geraram um processo interno de discussão administrativa sobre o que é convênio, contrato, sobre os instrumentos tradicionais do Estado brasileiro de relação com a sociedade, que nos obrigou a trabalhar internamente a flexibilização dessas normas e instrumentos para se relacionar com o perfil da sociedade, com o segmento da sociedade brasileira que não tinha tradição de se relacionar com o Estado, que sequer se imaginava como clientela do MinC. De repente o ministro Gilberto Gil diz “olha, o foco passa a ser a sociedade brasileira e não só uma parte da produção cultural”. Mas para aqueles que se reconheciam como parte da nossa vida cultural, os pontos de cultura , 400, 500 pontos, são 200 mil grupos no Brasil, é um programa muito importante. Num país de escala continental como o nosso, isso é reconhecido pelo ministério; e a gente quer partir da premissa de que os convênios e o repasse de recursos para as comunidades determinem o que querem fazer deles, do ponto de vista de capacitação, de formação, de projetos culturais, equipamentos, reformas de seus espaços, relação com outros grupos, tudo isso é auto-determinado pelas próprias comunidades. Este é um passo muito importante, visto que os modelos tradicionais de programas são aqueles que tem tudo muito claro desde o início. Dizem exatamente onde os grupos devem chegar. Essa é uma forma sutil de tutela, mesmo com uma capa de Estado democrático. Isso mudou, os limites são esses, como superar uma lógica de mero repasse de recursos, como dar outros tipos de atendimento, mais sofisticados, e como permitir que a rede vá se articulando por sua própria força e autonomia? E vai ela própria começando a dizer pro Estado o que pensa ser sua política cultural para esse segmento dos grupos culturais, das comunidades que trabalham com cultura no Brasil. São realmente centenas de milhares de grupos, muitos deles informais. Isso traz um aspecto importante de reconhecer que boa parte de nossa atividade cultural, inclusive a atividade econômica cultural é informal, vivem na informalidade. Isso tem dois aspectos, um deles dizendo respeito a uma situação econômica do país, do padrão econômico da área de serviços, informal, que tende cada vez mais à terceirização, à informalidade, a processos que são absolutamente ausentes do mapeamento do Estado. Ao mesmo tempo, essa informalidade é uma característica cultural também. Ela não é só produto econômico de um país que não consegue empregar todo mundo, colocar todos no mercado de trabalho. Ela é também uma característica da própria cultura, ela tem uma dimensão intangível, de inovação permanente, de baixa formalidade e institucionalização. Que Estado queremos para dar conta dessa dimensão informal, como tratar o informal? Isso é um desafio. Porque se a gente pede para uma entidade se formalizar para fazer um convênio com o Ministério da Cultura, se os pontos de cultura do grupo de hip hop tem que se formalizar, tem que ter figura jurídica, tem que ter capacidade de gestão, tem que virar um pequeno aparato do Estado para se relacionar com ele, então o Estado está impondo uma lógica cultural de um modelo organizacional para aqueles grupos. Como superar isso? Esse é um problema contemporâneo, que não é só brasileiro. Com o aprofundamento e expansão da democracia, na América Latina, muitos avaliam que houve crescimento da economia da cultura. Certamente os Estados vão ter que se repensar radicalmente para dar conta do campo cultural de outras áreas. O campo cultural e as políticas culturais vão acabar tendo um papel importante para repensar o Estado como um todo, e isso é muito interessante.
LB – Existe uma nova tecnologia, ou uma metodologia de política cultural sendo criada nos países em desenvolvimento, que é diferente dos modelos francês e norte-americano, por exemplo. O quanto somos ainda influenciado por esses paradigmas?
AM – Penso que existe sim uma tecnologia, dado o fato de que os povos dos países latino-americanos são formados por muitas matrizes, têm uma diversidade cultural enorme e também são Estados que passaram por um período autoritário por muito tempo, passando depois por uma década de 90 muito marcada por ditames e concepções de Estado que o definiu como um aparelho pouco presente nas suas atribuições de formulador de políticas de cultura. Penso não ser coincidência o fato de que nesse momento em que saímos dessa etapa. O documento pós e neoliberal por excelência é a Convenção da Unesco, o primeiro documento internacional de governança global que marca claramente um novo momento de discussão mundial sobre Estado, nação, políticas, políticas públicas, cultura. Parece-me que estamos formatando aqui uma tecnologia. O Brasil, por exemplo, é admirado por suas leis de incentivo, de renúncia fiscal. Naturalmente, os problemas de distorções que as leis de incentivo geraram no Brasil não são tão conhecidos como os seus benefícios. Isso é um aspecto interessante. Os pontos de cultura, até onde sei, são um programa inovador do ponto de vista de sua relação com a sociedade, da flexibilidade do programa. Poderia citar o caso que escutei hoje num debate do congresso de uma província na Argentina, que tem uma lei de cinema que investe 15 milhões de pesos por ano, como se o Estado brasileiro levasse 7 milhões de reais por ano para realizar filmes, como um projeto de geração de emprego no Estado. O fato é muito interessante. A América Latina em especial e os países em desenvolvimento em geral têm desenvolvido uma tecnologia de política pública e talvez estejam sendo obrigados a fazê-lo pelas circunstâncias de uma diversidade cultural que é expressão da democracia desses países, e que quer se fazer visível, quer estar presente socialmente, exigindo instrumentos para isso. E aqui cabe ao Estado cumprir seu papel. O caso das leis de incentivo no Brasil e seu desenho originário tinham uma vocação para gerar uma espécie de orçamento indireto para a sociedade produzir cultura por meio de relação com empresas patrocinadoras. Um mecenato privado e público, na medida em que o dinheiro é público, e privado na medida em que a decisão é das empresas. O benefício imediato foi o reavivamento da produção brasileira, de áreas que haviam sido estagnadas depois do fim das instituições de cultura com o Collor, a retomada da produção da legislação para cultura, uma série de aspectos importantes. Com o tempo, naturalmente, com toda a legislação, em alguns aspectos começaram a aparecer distorções. A lei na sua origem já tem aspectos que responsabilizam o Estado em formular políticas públicas. Elas transferem para o mercado o que é fundamental, que é a decisão do que vai ser feito no campo cultural. O que é negativo por princípio é você não ter um sistema de avaliação previsto desde o primeiro texto de lei do Rouanet, onde já havia uma clara questão que se foi perdendo com o tempo, que é a da avaliação dos projetos culturais. O Rouanet foi ao Ministério da Cultura quando convidamos todos os ex-ministros para uma discussão sobre política cultural de um modo geral. Sobre o papel do Ministério, ele fez uma fala muito interessante, onde ele dizia :“eu nunca imaginei que a Lei Rouanet ia ser interpretada como uma desresponsabilização pública da avaliação do mérito cultural”, ou seja, da avaliação da qualidade técnica, da qualidade estética, é fundamental. E vir dele que é autor da lei foi muito importante porque nos parecia que a lei tinha sido interpretada de uma forma distorcida, ao minimizar a importância da avaliação. Avaliar, assim como a Fapesp avalia pesquisa, não significa dirigir a cultura, pelo contrário, o sistema de avaliação é público, não estatal. É complexo. Passa primeiro pelo produtor cultural, depois por um sistema de avaliadores, depois a própria empresa, que em alguma medida pode ou não avaliar conforme sua política, depois tem a avaliação do público, da sociedade, de prestação de contas, e a avaliação é fundamental. É uma premissa. Isso é um dos aspectos que está sendo aprofundado agora, constituições de um sistema de parecerias, equipado de avaliação cultural, reconhecendo a complexidade do território da cultura. Não se pode enviar uma avaliação de um projeto de parada gay, por exemplo, que reconhecemos como fenômeno cultural importante e que lida com cultura de gênero, com política de identidade, por um especialista acadêmico em belas artes. Ou seja, cabe ao Estado não dizer se o projeto é bom ou ruim, mas dar condições para que o processo público de avaliação aconteça de uma maneira qualitativa. Coisa que não vem acontecendo. Surgem então as distorções, que deixam a sociedade perplexa, como “esse livro foi financiado pela Lei Rouanet?”. Se você não tem um sistema de avaliação que co-responsabiliza o parecerista para o parecer que ele deu, e que ele possa depois dizer “bom, o que foi combinado lá atrás aparece no final”, até por uma questão de lisura dos recursos públicos, que aquilo efetivado pelos recursos públicos, de fato, foi feito, materializado, chegou no público. Essas são as responsabilidades importantes que paulatinamente foram sendo retomadas nessa gestão. Tem muito por ser feito ainda. O próximo ciclo de gestão, seja qual for, terá que aprofundar isso. E mais importante: terá que aprofundar duas coisas que estão em curso. O fato de que a lei de incentivo fiscal não deve ser protagonista do ambiente cultural. Ela pode ser instrumento benigno se ela tiver foco, se atuar em certas áreas, de maneira racional, para complementar o orçamento que deve ser aquele para que as instituições de cultura possam trabalhar com ele e fazer suas políticas públicas, sem a qual não há política pública. Outro aspecto importante é a possibilidade que o novo decreto formaliza de realização de editais de política pública via Lei Rouanet. As estatais já perceberam isso, que a realização de editais públicos, de linhas de seleção pública agregam valor à marca da empresa, trazem benefícios públicos, sinalizam para todo um campo cultural uma contrapartida daquela empresa a partir do lucro que ela gera para os recursos públicos. A possibilidade de aprofundar seleções públicas, critérios, modelos previsíveis de acessibilidades, e que o campo cultural se reconheça nesses critérios, como na Petrobrás hoje. Todo ano o produtor cultural sabe que vai chegar ali, no final do segundo semestre, que tem um cardápio de projetos e editais. Ele sabe que todo ano aquilo vai ser feito e se preparam para isso. É algo muito positivo. Isso pode ser aprofundado inclusive no setor privado. Essa experiência deu muito certo com as estatais, que avaliam de maneira pragmática. Essa tecnologia pode ser exportada pouco a pouco para o setor privado, realizando talvez um potencial público das leis de renúncia que ainda não foi realizado pelas distorções que a gente mencionou.
LB – Esses organismos da ONU que defendem o paradigma neoliberal, da sociedade de consumo, e ao mesmo tempo o fortalecimento das nações (o que é contraditório) como atores do desenvolvimento da sociedade, conjugando com os interesses das grandes corporações… Esse paradigma da economia de mercado, que é um modelo norte-americano de gestão do espaço público, e a convergência do interesse privado como política pública, eu vejo uma impregnação muito forte dos organismos da ONU nesse sentido. Ele é neoliberal, não nas premissas, mas nas conclusões. Por outro lado, a gente tem uma Convenção da Unesco para a Diversidade Cultural que oferece um contraponto a toda lógica da ONU de maneira geral. Você vê uma real possibilidade de utilização desse instrumento como uma catapulta para a busca novos paradigmas de inclusão dessa tecnologia de gestão de políticas públicas no âmbito internacional?
AM – Eu vejo uma grande possibilidade no campo da cultura, da gestão musical, o Tropicalismo, a mensagem do Brasil ao mundo. O Caetano fala disso em Verdades Tropicais, sobre que contribuição daríamos para um processo civilizatório, de construção do global. Tem muito a ver com esse momento da gestão, o que deve ser conhecido e reconhecido como um espaço válido de intervenção cultural. Penso que um dos fatos culturais mais importantes que a gente viveu recentemente é a Convenção da Unesco. É um fato cultural, não é só um fato político e institucional. Por tudo isso que você mencionou, deve ser um documento que é um pouco antípoda de tudo quilo que vem sendo concluído, induzido e orientado aos países em desenvolvimento nas últimas duas décadas. Ele é autorizativo na medida em que ele nos permite trabalhar de maneira global em torno das nossas instituições de cultura, do seu papel de formulador de políticas públicas, de proteção do patrimônio material e imaterial. Por exemplo o que a gente viveu com o debate em torno do projeto da Ancinav, há dois anos, me parece que se tivéssemos uma compreensão mais avançada, um consenso mais avançado em torno do que a convenção diz, certamente aquele esforço de regulação econômica do audiovisual teria apoios ou uma repercussão muito mais desenvolvida do que teve. A Ancinav é um exemplo nosso, mas outros Estados estão vivendo também conflitos e preocupações semelhantes. O fato de uma convenção internacional permitir que eles tenham total legitimidade de atuar internamente para tomar as medidas necessárias, criar as instituições necessárias, criar as políticas para fazê-lo, e fazê-lo pensando no todo, nas questões regionais, nas questões globais, não fazendo numa ótica que pode ser perversa, que seria uma leitura equivocada da Convenção, de um retorno ao nacionalismo. Retorno àquilo que existe de mais fechado no nacionalismo que é a idéia de uma identidade estanque, de um patrimônio estanque. O que é muito interessante é ter uma convenção da Unesco, que é global e que pensa o global a partir de uma lógica fractal de identidades no plano nacional, regional, local, que é uma fractalização da noção de identidade, mas que recupera o papel do Estado. Isso é muito interessante, pensar essa discussão conceitual, Estado-nação, que é um binômio rígido, de que o Estado é uma estrutura institucional criada por uma nação, por um povo, para defender sua identidade, um trinômio: Estado-nação-identidade cultural. Você pode pensar até a idéia de nação como identidade, cultura e nação quase sinônimos. Um dos aspectos interessantes e inovadores da convenção é que ela plasma num documento de referência internacional a noção de diversidade cultural, de papéis do Estado moderno laico e democrático e uma noção de identidade cultural global, que eu penso ser um aspecto importante, de abertura. Os estados podem criar mecanismos para proteger a sua cultura? Sim, buscando intercâmbio, diálogo intercultural. Esse é o desafio na verdade: como valorizar a diversidade regional, local, nacional, fazendo um diálogo global e contemporâneo de abertura, solidariedade, de Cultura da Paz, de diálogo de civilizações? Nesse aspecto, essa convenção é um documento político que transcende a importância dela da política cultural para outros países. Não é por acaso que alguns países buscaram estancá-la na reta final porque ela abre precedente para outras discussões.
LB – Para mim, o segundo degrau, marco da política cultural brasileira é lidar com o surgimento do Gil, não só por ele, mas pelo que representou a eleição do Lula, em relação à identidade. A gestão do Vargas em relação às políticas culturais como primeiro degrau e que teve esse elemento da identidade como integração nacional, de formulação do senso de nação republicana. Vejo muito claro, reforçado com a ditadura militar, essa política, que ganhou nova perspectiva com a transformação dos meios de comunicação de massa em instrumentos de integração, de desenvolvimento dos eixos, de emanação e difusão cultural, da cultura carioca, como um way of life de que o Brasil é vitima até hoje. Vejo o Gil quebrar essa noção de identidade. Não falamos mais em identidade como projeto, como política cultural, e sim de diversidade. Ou seja, a falência da identidade como projeto político porque justamente não estamos falando do conjunto das identidades e sim do forjamento de uma identidade única do brasileiro e que o Gil vem justamente quebrar com isso. O baiano, o mineiro ou o gaúcho não são o que os meios de comunicação de massa dizem que são. São o que eles próprios se dizem e se fazem. Saímos assim de uma política da identidade para uma política da diversidade. O Gil tem esse papel importantíssimo no plano internacional, diante do processo de aprovação da Convenção da Diversidade. Vejo uma conexão muito grande na necessidade interna de aplicabilidade desse instrumento. Mas não vejo no MinC um trabalho muito forte de aplicação desse documento na sociedade. Tem algo que eu não estou conseguindo enxergar na minha análise?
AM – Não. Uma imagem interessante que eu vou retomar é a fractalização das identidades. A crítica que a antropologia e os estudos culturais fizeram à noção de identidade nacional, com muita justiça, é essa narrativa construída pros Estados-nações de exercer domínios, acumular saber. Esse Estado que absorve saber e que produz uma identidade produz cultura, em última instância. A partir do momento em que a gente desloca a idéia de um Estado formulador de políticas públicas para um Estado produtor de cultura essa noção de identidade clássica já vem abaixo. O discurso do ministro de noção de identidade com política de identidade, nas políticas afirmativas, nas políticas das identidades coletivas como de gênero, culturais de grupos, elas começam a aparecer mais nos anos 60, 70 e 80 e que são marcos do surgimento de novos atores, sujeitos de direitos e que nas constituições e nos marcos legais são reconhecidos em abstrato por uma república abstrata e pelas políticas de identidade. Esses sujeitos sexuais, as minorias, passam a afirmar identidades coletivas, que não são individuais e que são importantes pela diversidade cultural. Eu não oporia a noção de diversidade e identidade como uma substituição absoluta. Eu faria uma substituição da noção de identidade que você mencionava que é aquela Estado-nação produtora de uma narrativa, o samba define o Brasil ou a Carmem Miranda define nossa imagem no exterior, ou a cultura sendo usada como uma imagem estanque e sintética das outras culturas; trata-se aqui do conceito que o ministério vem trabalhando, que é o que permeia a Convenção da Unesco e vejo no Congresso Argentino de Cultura isso muito presente. O conceito de cultura como processo permanente, inesgotável, inalienável da sociedade, de produção simbólica, numa diversidade que constitui a sua essência, naturalmente essa diversidade não pode ser considerada de forma estanque. A tendência é o discurso multicultural que defende a guetização das culturas e suas identidades estanques que não dialogam. Nossa noção de identidade contemporânea é a de uma identidade dialógica, intercultural que se hibridiza e se relaciona. Parece-me também que essa é uma mensagem contemporânea também. Um discurso cada vez mais presente nas autoridades de cultura, nos ministros de Estado. E o ministro Gil tem tido uma posição muito comprometida em levar essa mensagem a todas as instâncias em que ele é convidado, ele vem praticando isso internamente. Você tem razão ao constatar que o Brasil está atrasado na aprovação da Convenção, já deveria ter sido aprovada. A nossa idéia era tê-la aprovado esse ano. As eleições prejudicaram muito uma agenda de trabalho pro Congresso, mas a gente esteve com o deputado Paulo Delgado recentemente e o relato que ele nos deu é que há um compromisso grande no parlamento para que o mais rápido possível o Brasil possa aprovar a Convenção da Unesco. Isso é uma dimensão também em relação aos programas do Ministério, que tem que ser aprofundado. Uma secretaria de identidade e diversidade foi criada na reforma administrativa. Sua vocação é a produção tanto de conceitos sobre diversidade cultural, a interpretação brasileira de diversidade, como também o trabalho de fomento ou incentivo, oficina de formação com minorias culturais, grupos étnicos, políticas de gênero…
LB: Não há uma sobreposição de função da Secretaria de Identidade e Diversidade com a sua? Ao passo que a sua cuida das questões técnicas em relação à diversidade do panorama internacional?
AM – Quando fizemos a reforma administrativa, em 2003, que foi o primeiro processo deflagrado institucionalmente, de mudança da estrutura do Ministério, foram instituídas quatro secretarias sistêmicas, que têm um papel não voltado a nenhum setor cultural específico: de políticas culturais, de articulação institucional, de diversidade, de identidade, e a de fomento de incentivo cultural, que toca à Lei Rouanet, mas que também é sistêmica na medida em que não é um tema ou outro. O que eu acho interessante desse desenho é que o que está por trás dele é a idéia do fortalecimento institucional dessa parte de inteligência e formulação que era uma parte do ministério. A diversidade se tornar um tema destacado de uma secretaria, então certamente, depois de quatro anos de trabalho nesse modelo onde muito se colheu a partir dele, focado também numa produção de inteligência, de resposta no plano da formulação, uma secretaria de políticas culturais voltada pra informação, de direito autoral, economia da cultura, isso certamente vai ser necessário pensar. Estamos fazendo isso no Ministério, sistematização, avaliação, como essa estrutura pode dar conta dos novos desafios e responder ao objeto que continua em questão, certamente a área de formulação precisa continuar sendo uma prioridade do Ministério, mas precisaria se pensar qual o ministério ideal, qual é aquele que queremos. Essa estrutura está dando conta de forma insuficiente. Estão chegando uma série de funcionários estáveis no Ministério depois do concurso feito, uma série de produtos importantes foram conquistados, mas ainda estamos muito distantes de uma institucionalidade da cultura adequada, levando em conta tudo o que foi conversado, o instituidor e o instituído, dos conceitos, do Estado moderno laico e democrático, na horizontal, com populações que não querem se instituir pra se relacionar com o Estado, mas tem que fazê-lo, as políticas de reconhecimento. Por tudo isso nos resta um desafio não realizado plenamente, de pensar quais são as instituições de cultura de que precisamos num país que tem uma diversidade cultural tão forte como a nossa:que estruturas, secretarias e o desenho institucional interno também são uma conseqüência dessa resposta mais ampla.
Leonardo Brant
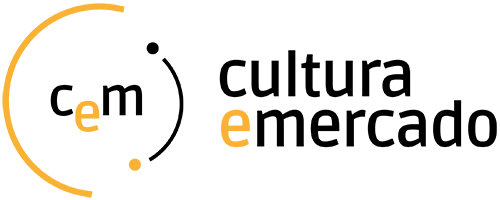
3Comentários