“Nos últimos dois anos o mundo cultural brasileiro tem acompanhado um fenômeno maravilhoso: a rendição da economia à cultura e à criatividade, em um casamento que promete ser duradouro.”
Nos últimos dois anos o mundo cultural brasileiro tem acompanhado um fenômeno maravilhoso: a rendição da economia à cultura e à criatividade, em um casamento que promete ser duradouro. Algo assim como uma história de Romeu e Julieta, na qual dois mundos resistem em se encontrar, mas com final feliz. Parece que finalmente viramos a página do capítulo no qual os economistas olhavam com desconfiança para o mundo intangível da cultura e os artistas e gestores culturais encaravam o mundo econômico como se estivesse a anos-luz de distância.
A economia da cultura teve sua certidão de nascimento emitida em 1965, quando os economistas Baumol e Bowen receberam um convite inusitado da Fundação Ford. A preocupação básica da instituição era entender por que as produções musicais e cênicas tinham custos crescentes, se comparados ao resto da economia, levando inclusive vários teatros e casas de espetáculos a fechar as portas. A explicação era que essas produções utilizavam mão-de-obra de maneira intensiva, não se beneficiando dos avanços tecnológicos que aumentavam a produtividade dos outros setores. Em outras palavras, para executar uma sinfonia de Beethoven continuava sendo necessário o mesmo número de músicos. Questionamentos à parte, o grande mérito desse relatório foi ter transformado de forma irrevogável a cultura em um campo de estudo da economia.
De lá para cá, a economia da cultura floresceu a olhos vistos. Em 1975, ganhou uma publicação específica, o Journal of Cultural Economics. Em 1992, foi reconhecida como disciplina econômica pela American Economic Association. No Brasil, ganhou destaque e atenção da mídia ao se tornar uma das bandeiras da gestão do Ministro Gilberto Gil, culminando com a criação do Departamento da Economia da Cultura do BNDES. E o interesse continua. Quando lancei o livro Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável, em novembro passado, na linha editorial do Instituto Pensarte, recebi convites para realizar mais de dez noites de autógrafo em cidades de contextos econômicos e sociais tão distintos quanto Teresina e Curitiba, mas todas propondo-se a debater o papel da cultura como base de desenvolvimento sustentável. A razão é simples. A economia da cultura se dedica aos produtos e serviços que têm, ao mesmo tempo, potencial econômico e valor simbólico (mensagem, identidade, valores). Encaixam-se nesse critério, por exemplo, o artesanato, as indústrias culturais, o turismo cultural, o patrimônio cultural, a moda, o design, os equipamentos culturais (teatros, cinemas, museus etc.). A economia entra nesse casamento analisando como se dá a produção cultural, como melhor distribuir essa produção no mercado nacional e internacional, quais mecanismos utilizar para corrigir falhas de mercado, qual o perfil de quem demanda produtos e serviços culturais, quais os empecilhos para consumir produtos e serviços culturais quando a vontade existe, qual o impacto de um determinado setor cultural na renda e no nível de emprego etc.
E o que isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável? Ora, não há como resolver nossas mazelas sociais sem pensar ao mesmo tempo no econômico; querendo ou não, vivemos em uma sociedade capitalista e renda é fundamental. Do mesmo modo, não cabe pensar o econômico sem o social; já vimos que aumentar o PIB sem gerar oportunidades de inclusão socioeconômica e com isso distribuir a renda não é um caminho sustentável.
Basta olhar para um artesão ou empreendedor dessa nossa vasta riqueza cultural para comprovar o potencial que nossas tradições, produtos e serviços culturais têm para criar oportunidades de renda, ao mesmo tempo em que geram auto-estima para quem produz e re/conhecimento de sua própria identidade cultural para quem consome. E, com isso, damos a esse pequeno artesão, assim como aos empreendedores culturais urbanos, aos artistas e aos demais profissionais envolvidos com produtos e serviços culturais, a possibilidade de viver daquilo que querem: sua cultura. Essa é a base da verdadeira promoção da diversidade cultural.
Já a economia criativa veio à luz nos anos 1980, na Austrália, mas foi o Reino Unido que abraçou o conceito, quando o partido Trabalhista de Tony Blair chegou ao poder, em 1997. Preocupado com as desoladoras perspectivas econômicas do país, diante de um quadro de decadência manufatureira, o Primeiro-Ministro identificou treze setores que poderiam reerguer a economia nacional. A eles deu o nome de “indústrias criativas”, já que em termos econômicos uma indústria nada mais é do que um setor. O que esses setores têm em comum e portanto o que delimita o campo de estudos da economia criativa é a possibilidade de gerar direitos de propriedade intelectual, em especial direitos autorais. Nesse leque entraram não só as indústrias culturais e o artesanato, como também moda, design, arquitetura e até setores de pujança econômica indiscutível, mas cujo componente cultural é questionável, a exemplo de propaganda e software. Ou seja, há uma grande intersecção com a economia da cultura (indústrias culturais, artesanato, moda, design), mas desconsidera atividades culturais que não geram direitos de propriedade intelectual, enquanto adiciona setores que de cultura têm bem pouco.
O conceito de indústrias criativas evoluiu para o de economia criativa, considerando todo um arcabouço de produtos e serviços que sustentam essas indústrias, de cursos de formação a políticas urbanas voltadas à criatividade como motor econômico. A estratégia do Reino Unido tem sido tão bem sucedida (estima-se que a economia criativa represente 8% do PIB do país), que levou à criação do Ministério das Indústrias Criativas, no ano passado. Não por menos, Tony Blair tem declarado que sua intenção é transformar o país no pólo criativo do mundo. Atente-se: não em um pólo, mas no pólo. Entremeios, é imprescindível que passemos esse conceito na peneira e o ajustemos à nossa realidade. Na pauta desse debate, temos de dar mais fôlego à questão dos direitos de propriedade intelectual das comunidades tradicionais; ao desconhecimento desses direitos por quem os deteria; à interdependência entre biodiversidade e diversidade cultural e em como patentes baseadas na biodiversidade e direitos autorais inspirados na diversidade cultural podem ser apropriados por quem não os criou. Quem se lembra da tentativa de registro do nome cupuaçu por uma empresa japonesa, um exemplo dentre vários? Quantos cupuaçus culturais corremos o risco de ver registrados?
Por essas e outras, seja bem-vinda a economia criativa, que nos faz questionar o papel que nos cabe no mundo da propriedade intelectual. E louvada seja a economia da cultura, mostrando a base maravilhosa de desenvolvimento sustentável que nossos saberes e fazeres culturais nos oferecem.
Ana Carla Fonseca Reis
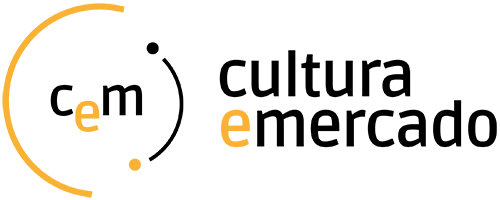
6Comentários