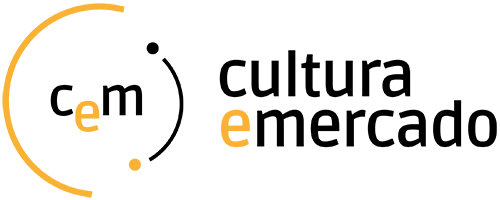É mesmo importante, num momento de acalorado debate em torno de possíveis reformas no mecenato e na política cultural em vigor no Brasil, a gente poder contar com opiniões respeitadas como a do consultor Yacoff Sarkovas. Sua ampla experiência no campo da comunicação empresarial é mesmo uma referência a considerar. Afinal, trata-se de um profissional capaz de sinalizar para todos os interessados de que maneira as variadas produções culturais são encaradas nos ambientes corporativos, muitas vezes tão refratários ao exercício do patrocínio como forma de comunicação com o seu público consumidor.
O interessante da sua abordagem, que é algo que ele defende de longas datas (portanto, quem o conhece e o acompanha sabe que não é um manifesto de hoje ou coisa atual), está no fato dela ser mesmo uma crítica contumaz ao modelo do mecenato exercido pela chamada renuncia fiscal, conforme foi construído ao longo de quase um quarto de século no país (desde os tempos da Lei Sarney). No entanto, poucos observadores atentam para alguns aspectos implícitos que estão por trás das suas idéias, uma vez que o entendimento imediato do combate ao modelo do mecenato e a defesa do papel único do setor público na produção salta logo aos olhos. É preciso cautela na percepção desses fatos, porque há outros ingredientes que não estão sendo devidamente enxergados. Assim, por mais que as minhas idéias transcritas em texto anterior possam parecer divergentes das de Sarkovas numa avaliação imediatista, a necessidade dessa percepção mais acurada poderá nos levar para uma convergência natural, embora pouco perceptível para os desatentos.
De fato, quando se fala de mecenato no Brasil é preciso que haja uma ponderação. Diante da necessidade de um conceito mais rigoroso do que seja esse exercício, nota-se que a prática efetivada no Brasil é mesmo uma aberração. Como se pode falar em “envolvimento empresarial” no patrocínio cultural, quando as contrapartidas existentes são, na maioria das vezes, igual ou superior (no caso da Lei do Audiovisual) aos 100%? Nesse modelo – aí sim, abrasileirado na sua distorção latente – faz-se a chamada “cortesia com o chapéu alheio”, simplesmente porque o empresariado foi “mal educado” através de um instrumento de política pública que só o compromete com as vantagens fiscais. Noutras palavras, a defesa que deveria ser feita a favor de uma renuncia fiscal, capaz de propiciar uma educação tal que o empresariado se sentisse, gradativamente, comprometido com outros valores inerentes ao seu patrocínio, foi jogada por água abaixo na maior parte do tempo.
É nesse sentido que não vejo divergências da minha opinião com relação às idéias defendidas por Sarkovas. Meu senso técnico sempre admitiu que o modelo da renúncia fiscal para a cultura exigisse do investidor contrapartidas, numa espécie de uma prévia do que hoje se chama de parceria público-privada. E isso não é muito diferente do que defende Sarkovas, pois ele sempre destacou o engajamento do setor empresarial na produção cultural, como uma forma de comunicação por atitudes, para usar a sua terminologia. Ele acredita na força da cultura e de outras formas de entretenimento como instrumentos do patrocínio empresarial, justamente por entender essas opções como ferramentas de comunicação com o público consumidor dessas empresas investidoras.
O que se pode perceber é que nossas idéias se afunilam no atacado, embora possam se dispersar um pouco no varejo. Afinal, é evidente que apostamos no patrocínio privado. Só que motivado pelo seu próprio exercício profissional de apontar os melhores meios de comunicação corporativa com o consumidor, Sarkovas aposta na decisão pura e simples do empresário a favor do patrocínio cultural, mesmo que isso possa significar lá na frente alguma vantagem fiscal, do tipo abatimento dos valores em despesas (prática tão comum noutros países). Como não houve um processo educacional favorável a essa atitude (por mais que Sarkovas ajude a difundi-lo pelo seu próprio esforço de trabalho), defendo a simplicidade tupiniquim, na qual o modelo atual possa ser revisado, no sentido de se inserir um escalonamento de contrapartidas, conforme o “caráter comercial” do produto cultural.
Aliás, nesse contexto estranhamente árido do reconhecimento comercial ou misto de alguns produtos, vale enfatizar que a proposta de Sarkovas admite implicitamente os “produtos comerciais e semi-comerciais”, porque é evidente que a decisão empresarial a favor do patrocínio, independente da forma de mecenato, só tende a se efetivar em cima de produções que mobilizem algum público com expressividade. Ou que – pelo menos – se identifique com o universo de consumidores da empresa patrocinadora. Na realidade, reconheça-se que essa “aberração” para alguns puristas de plantão não deixa de ser mercado ao pé da letra, porque afinal as regras que estão em jogo são as da livre iniciativa. Qualquer outro entendimento pode apenas fazer parte do meu e de tantos outros devaneios ideológicos a favor de um modelo econômico substituto, que na prática tem se mostrado irreal desde o advento da revolução industrial.
Por outro lado, após se distanciar do modelo equivocado de mecenato praticado no país e, por conseguinte, defender o patrocínio da iniciativa privada como instrumento de comunicação por atitude, não seria diferente que Sarkovas, como bom entendedor do mercado, também enxergasse uma ação complementar na forma de intervenção pública. Assim, está implícito nas suas idéias o reconhecimento da segmentação do mercado cultural, pois longe dos casos dos produtos comerciais merecedores do patrocínio privado (direto ou incentivado de outra forma) existem inúmeros outros, que por preservarem os valores das identidades, dependem fortemente da intervenção direta do poder público. E também nesse aspecto concordamos perfeitamente, sem que se mistifique o papel governamental como uma saída única, homogênea, como está insinuando a proposta de reforma da Lei Rouanet.
Diante disso, só posso entender que o texto de Sarkovas reforça a idéia de que, por ser o mercado cultural heterogêneo, as ações de uma política pública de cultura devem considerar a necessidade de adoção de instrumentos diferenciados. Para os produtos ditos comerciais, torna-se possível o patrocínio privado na forma de mecenato puro, seja por ação direta (como elemento pleno de comunicação por atitude) ou por estímulos oriundos do governo (através, por exemplo, de um modelo de renuncia fiscal revisado, que projete a contrapartida do investidor). Para os produtos não-comerciais, a intervenção direta do governo é uma condição indispensável, como meio de sustentação de uma política segmentada, que contemple instrumentos variados em defesa das identidades.