Nesta entrevista concedida por e-mail a Georgia Nicolau para o Cultura e Mercado, o secretário Américo Córdula, da Identidade e Diversidade Cultural, aborda as políticas para as culturas populares e a garantia dos direitos culturais da população brasileira.
Conheço o Américo de sua ativa participação no Fórum de Culturas Populares, uma das iniciativas mais interessantes e marcantes da sociedade civil em relação à valorização da diversidade cultural no Brasil. Depois de um longo caminho de aproximação, tensão, compreensão mútua e formulação de programas e ações efetivas, houve uma transformação significativa tanto dos movimentos sociais quanto do papel do Estado em relação aos fazeres e saberes populares. Américo é um dos protagonistas mais importantes desse processo, tanto do lado da sociedade civil quanto do governo.
Do lado de lá do balcão, ele concede a seguinte entrevista a Cultura e Mercado:
Georgia Nicolau – De 2003 para cá, com a chegada de Lula à presidência, quais foram as principais medidas, por parte do governo, que efetivamente ajudaram as culturas populares?
Américo Córdula – Vários programas sociais atendem, hoje, aos mestres, grupos e comunidades praticantes das expressões culturais populares, desde os de infra-estrutura, direitos à saúde, promoção da igualdade racial, até a projetos específicos como o da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, coordenada pelo Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social. Faz parte do Plano Plurianual (PPA) de 2003/2007 e agora, de 2008/2011, o Programa da Diversidade Cultural (Brasil Plural), do Ministério da Cultura. Ele contempla as culturas populares através de ações como seminários de formulação de políticas públicas, editais públicos, capacitação para criação de projetos e atendimento a demandas espontâneas através do Fundo Nacional de Cultura (FNC). Além deste programa, outras secretarias e instituições coligadas do Sistema MinC, possuem programas que contemplam as Culturas Populares, como o Mais Cultura (SAI), Cultura Viva (SPPC), Revelando os Brasis (SAV), Patrimônio Imaterial (DPI – IPHAN), dentre outros, que permitem o desenvolvimento de iniciativas e projetos.
GN – Qual o legado da gestão de Sergio Mamberti e o que pretende fazer daqui para frente? Quais as maiores dificuldades?
AC – Sérgio Mamberti foi o grande responsável pela inclusão da temática da diversidade cultural no Ministério da Cultura. Foi o grande articulador dos segmentos que, até então, não tinham uma atenção específica das políticas públicas no Brasil, e constituiu espaços de diálogos com representações destes segmentos, seja através de seminários ou de grupos de trabalho.
Além disso, criou os primeiros editais públicos para a diversidade cultural. Isso permitiu a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas que estão refletidas nos programas e ações do ministério e no Plano Nacional de Cultura.
Colaborou também, ativamente, como delegado do MinC, no debate sobre o conteúdo da Convenção da Proteção e da Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO – o Brasil hoje representa a America Latina e o Caribe no Comitê Intergovernamental). O ministério tem hoje na Convenção um norte para as suas políticas.
Os desafios continuam sendo os mesmos de sempre: o baixo orçamento e a falta de garantia de que esta política de governo se torne uma política de Estado, com perenidade nas ações que hoje contemplam os segmentos da diversidade e que não se percam as conquistas nas futuras gestões.
GN – O que a SID entende por Cultura Popular?
AC – Bem genericamente, a cultura praticada por detentores de saberes, tradicionais ou não, inseridos em contextos sociais e econômicos adversos. Nossa preocupação, no entanto, foi manter um distanciamento sobre os problemas que envolvem este conceito, que é muito disputado dentro da academia e entendido de formas bem distintas dependendo dos interlocutores com os quais nos relacionamos. Procuramos respeitar como populares aqueles que assim se reconhecem. Do mesmo modo com os indígenas, quilombolas, LGBT e etc.
GN – Quais ações da SID estão sendo realizadas especificamente para as Culturas Populares?
AC – Realizamos dois grandes Seminários Nacionais de Políticas Públicas para as Culturas Populares em 2005 e 2006 que contaram com a realização de oficinas estaduais e que tiveram delegados eleitos para o Encontro Nacional. Eles elaboraram e priorizaram diretrizes e ações que formam a base para a construção das políticas públicas para as Culturas Populares no Ministério da Cultura. Junto com o segundo seminário realizamos o primeiro Encontro Sul Americano das Culturas Populares, com a participação de 8 países convidados, que debateram suas políticas e trouxeram seus grupos tradicionais. Em 2008 aconteceu o segundo Encontro Sul Americano em Caracas, já como parte de uma agenda do MERCOSUL Cultural, que é o fórum dos ministros da cultura da América do Sul. Estes encontros fazem parte de uma política de integração e reflexão sobre as culturas tradicionais na América do Sul.
O Ministério da Cultura apóia também outros encontros de culturas populares, como o Mestres do Mundo (Juazeiro, Crato e Barbalha – CE), Encontro de Cultura Popular (Brasília-DF), Vozes de Mestres (Belo Horizonte-MG), Encontro das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros (São Jorge-GO) e o Encontro de Mestres da UFRJ(Rio de Janeiro-RJ). Em todos estes encontros promovemos discussão e debates com os mestres das culturas populares.
Entre as principais ações destacamos os editais, que tiveram, até o momento, três edições, uma por meio de convênio e duas através de premiação. Foram contempladas 542 iniciativas de mestres, grupos, iniciativas públicas e da sociedade civil organizada de todos os estados. Outra ação importante é a capacitação de pessoas participantes destas comunidades12 para a criação de projetos que utilizem recursos do FNC.
GN – Antes de se tornar secretário, você era um representante da sociedade civil que sempre se envolveu na questão das políticas públicas para as culturas populares. O que você reivindicava naquela época, continua sendo o que você busca hoje?
AC – De certa maneira, sim. O que mudou é que hoje tenho a possibilidade de ver a dimensão desse Brasil real – como diria Darcy Ribeiro. Antes de ocupar um cargo na SID, tinha uma idéia mais romântica e lutava pela construção de uma política pública para as culturas populares. Até então existiam ações importantes para o folclore, que tem, desde Mario de Andrade, uma jornada que deve ser respeitada. Mas não havia espaço de participação e consulta aos protagonistas. Como hoje temos um governo popular que ouve através de processos democráticos de consulta (foram mais de 60 conferências nacionais de toda ordem nesses seis anos), as Culturas Populares conquistaram finalmente este espaço.
Os programas e ações que realizamos hoje são assimilados pelos estados. Temos pelo menos, 14 estados que tem editais semelhantes aos nossos, e até estruturas como as da SID, por exemplo: a Coordenação de Identidade e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, coordenada pelo Marcos André e que teve origem na compreensão da Secretária Adriana Ratz de que o Rio também deveria atender estes segmentos. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo também tem hoje uma coordenação que publica editais para as culturas populares, indígenas, hip hop, etc.
GN – Na sua opinião, o Brasil avançou na discussão das políticas publicas para as Culturas Populares? Em quais aspectos?
AC – Muito, Como já disse acima, hoje temos uma vaga para as Culturas Populares no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Além disso, muitos conselhos estaduais e municipais também começam a ter esta vaga. O grande desafio é que o protagonismo desses conselheiros seja atendido. É muito difícil ter alguém representando nacionalmente toda a diversidade das Culturas Populares. Para isso, estamos criando um Colegiado Setorial para as Culturas Populares que irá o conselheiro neste espaço.
O Plano Nacional de Cultura vai garantir, pelo menos nos próximos dez anos, que as diretrizes e ações que contemplam as Culturas Populares sejam atendidas pelos programas.
Outro grande avanço é a apropriação pela federação de políticas para as Culturas Populares. A grande dificuldade é mapear este campo: quantos mestres ou grupos de manifestações temos no país? Falta um inventário e, nesse sentido, o Plano Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais no qual o MinC tem a participação no conselho, deliberou sobre a realização de uma pesquisa nacional de comunidades tradicionais. Para se ter uma idéia, está previsto o mapeamento de 104.000 comunidades tradicionais. Queremos saber não só das culturas populares, mas dos espaços culturais, dentre outros dados, para que possamos aprimorar nossas políticas.
GN – Você foi um dos fundadores do Fórum Permanente das Culturas Populares de São Paulo. O que o fórum representa hoje?
AC – Para mim é um movimento social importante que reflete, critica e propõe ações ao governo. O primeiro Seminário de Políticas Públicas surgiu de uma proposta feita pelo Fórum Permanente das Culturas Populares de São Paulo junto com o Fórum de Culturas Populares do Rio de Janeiro, que, na mesma época, propunha um programa de políticas públicas para o segmento. Nos encontramos no Seminário Cultura para Todos e a SID, recém-criada, montou um grupo de trabalho, que durante um ano e meio, desenhou o primeiro seminário. A partir deste movimento, novos fóruns surgiram e, depois do segundo encontro, foi estabelecida a Rede das Culturas Populares com fóruns de todos os estados e que hoje trabalha em parceria com o MinC na construção do processo do Colegiado Setorial das Culturas Populares. Portanto, os fóruns são parte fundamental de nosso processo de criação de políticas.
GN – Como você enxerga a participação da sociedade civil, e , principalmente, os mestres das tradições populares, na reivindicação de políticas publicas? Ela é grande? Poderia ser maior?
AC – Em todos nossos seminários tivemos uma grande participação de mestres tradicionais que foram escutados nas oficinas estaduais e participaram da priorização de diretrizes. Foram processos novos para eles e para nós. Sempre tivemos uma preocupação na comunicação, em ser menos burocráticos, facilitar os mecanismos de acesso, criando editais simples. Ao mesmo tempo trazer informações de pesquisa. No caso dos editais dos povos indígenas, implementamos a inscrição oral, que foi justamente para atender a dinâmica deles. Planejamos adotar este mecanismo nas próximas edições dos editais de Culturas Populares.
Sabemos das dificuldades de acesso às nomenclaturas, formulários, criação de projetos e internet, mas temos que capacitar pessoas para que estes grupos possam participar. Por isso investimos nos jovens, filhos ou netos dos mestres, que, hoje, têm uma facilidade maior com os meios de comunicação. Temos que investir para que estes grupos possam submeter suas demandas sem intermediários. Cito o saudoso Mestre Salú, que na mesa de abertura do segundo seminário explicou como resolveu tudo em família. Seus filhos hoje tocam todos os projetos da Casa da Rabeca, Associação de Maracatus Rurais, o grupo de Cavalo Marinho, e, também, são um Ponto de Cultura.
GN – Você considera que a SID consegue representar a todos que pretende (ciganos, índios, quilombolas, mestres da tradição…)?
AC – Não pretendemos representar ninguém. Esse não é o papel de uma secretaria. Nosso trabalho é dialogar com quem representa esses segmentos e construir políticas públicas pactuadas. O que fazemos é criar um espaço de participação, respeitando a dinâmica de cada segmento que atendemos. É importante salientar que não decidimos os segmentos sozinhos. É uma relação de mão dupla. Alguns processos surgiram da procura de organizações da sociedade civil. Hoje temos grupos de trabalho de indígenas, ciganos, LGBT, Culturas Populares e, mais recentemente, Cultura da Infância, que, por sinal, levou mais de ano para se organizar e começarmos um diálogo. Outros segmentos como Saúde e Cultura, que envolve transtornos psíquicos, deficientes e saúde do trabalhador surgiram através de nossa iniciativa em procurar o Ministério da Saúde e começar uma parceria. Muitos criticam e questionam se os participantes que integram os grupos de trabalho destes segmentos são representativos. Convido a estes que participem dos momentos de discussão e leiam como estão refletidos estes momentos nas nossas políticas, editais, plano nacional, conselho, etc. E, se não se sentirem contemplados, por favor, venham participar conosco desta construção.
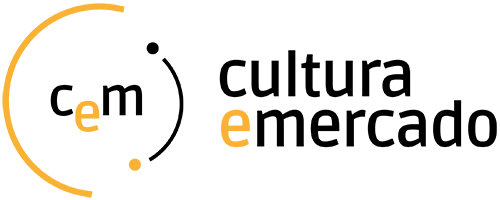
8Comentários