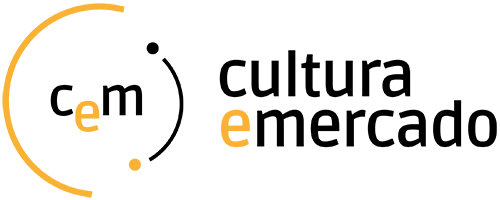A produção cinematográfica brasileira, durante o período militar, perde de vez sua primazia empresarial para ser orientada sob a égide governamental, por meio da Embrafilme. Neste novo dono do cinema brasileiro, que orienta e concentra suas ações dentro de um aparato militar-burocrático, as turmas do cinemão (cinema novo) e do cineminha (cinema marginal) travam uma verdadeira disputa de cabo-de-guerra para conseguir os recursos públicos do “balcão” da Embrafilme.
 Neste novo modelo, os termos “nacional” e “popular”, que já eram dicotômicos, ressurgem como dialetizantes, para se fundirem numa nova síntese do cinema nacional. Isso porque as ações da Embrafilme, apoiando na década de 1970 filmes baseados em obras literárias nacionais para encampar um discurso nacionalista, assim como os filmes com a temática erótica para atrair as camadas mais populares, irão se configurar num importante modelo de grande bilheteria e sucesso popular.
Neste novo modelo, os termos “nacional” e “popular”, que já eram dicotômicos, ressurgem como dialetizantes, para se fundirem numa nova síntese do cinema nacional. Isso porque as ações da Embrafilme, apoiando na década de 1970 filmes baseados em obras literárias nacionais para encampar um discurso nacionalista, assim como os filmes com a temática erótica para atrair as camadas mais populares, irão se configurar num importante modelo de grande bilheteria e sucesso popular.
O prolongamento da ditadura até sua distensão, que se daria de maneira lenta, gradual e segura após a anistia política, dissolveu completamente os apetites revolucionários dos já não tão jovens ideólogos do cinema novo. Assim como as transformações da sociedade e da cultura brasileira que deixam de frequentar o cinema como programa de casal/família para acompanhar as novelas da noite, para infelicidade dos apaixonados pelas produções da Boca do Lixo, fizeram surgir uma nova mentalidade voltada para um novo público, que passa a frequentar as salas de cinema dos shoppings centers: o público infanto-juvenil.
É nesse período de fins da década de 1970 e toda a década de 1980 que ascende um cinema “nacional” e “popular”, baseado na sua síntese, porém dentro dos parâmetros televisivos, já que a audiência da televisão brasileira concentrada na programação da Rede Globo fez com que os filmes estrelados com seus principais ícones infantis da televisão, como Os Trapalhões e posteriormente Xuxa, “a rainha dos baixinhos” (sic), produzissem uma série de filmes sequenciais, que disputavam os maiores públicos em todo o território brasileiro.
Neste momento de redemocratização e da adoção de uma política neoliberal de um Estado-Mínimo, a década de 1990 se inicia com grande debate na classe cinematográfica sobre a necessidade ou não de se ter a Embrafilme e o Instituto Nacional de Cinema, duas estruturas governamentais, burocrática e herdeiras da ditadura militar. Os grandes produtores e realizadores antenados com os sucessos televisivos transportados para o cinema, juntamente com os diversos grupos de profissionais do cinema que não se beneficiaram com o balcão de negócios da Embrafilme, fizeram quorum com seu último diretor, Ipojuca Pontes, que desejavam o seu desmantelamento. Pretendeu-se uma outra perestroika (abertura) e glasnost (transparência) pós-queda da Embrafilme. Contudo, o velho já havia sido morto, antes mesmo do novo ter nascido.
Assim, no começo da década de 1990 se configurou num verdadeiro abismo no cinema brasileiro. Algo jamais imaginado por qualquer pessoa do nosso cinema. Chegamos a somente produzir alguns poucos longas-metragens. Pois a atividade cinematográfica sempre foi uma atividade arriscada que precisa de grandes somas de recursos, mas também de uma estabilidade política e econômica. Essa situação ideal não se manteve e as mudanças econômicas com os diversos planos financeiros e o galope inflacionário nos anos anteriores apontavam para um momento de dúvidas, especialmente pela a saída do presidente por impeachment. O melhor para se fazer foi criar uma lei que atendesse novamente aos interesses dos realizadores e produtores que estavam distantes dos filmes televisivos da órbita da TV Globo.
A criação da Lei Rouanet (1993) e da Lei do Audiovisual (1994) na década de 1990 gerou conversas sobre uma “retomada” do cinema brasileiro. O filme que representa o nascimento da Retomada do Cinema Brasileiro foi Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Uma obra cômica sobre a história do Brasil, onde o “nacional” e o “popular” se fundem dentro de uma perspectiva televisiva. Isso porque, ancorada em grandes atores da TV Globo, a obra caiu no gosto do grande público ávido por uma cinematografia genuinamente nossa. Importante notar que outros filmes “nacionais” e “populares”, ora rurais, ora urbanos, começavam a ser produzidos, principalmente, pela recém-criada Globo Filmes, com objetivo de alcançar todas as janelas de exibição de um filme (festivais, salas comerciais, vídeo doméstico, televisão fechada e televisão aberta).
A partir do final da década de 1990 até os dias atuais, a Retomada do Cinema Brasileiro faz surgir um sentimento nacionalista e popular quando alguns filmes brasileiros se tornaram finalistas da disputa do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e vencedores em grandes festivais internacionais. Assim como os filmes de comédia sertanejos e históricos de Guel Arraes são feitos sob encomenda da TV Globo, posteriormente são seguidos de novos filmes com viés romântico, histórico e urbano, feitos por realizadores e dramaturgos da emissora.
Já no começo do século atual, amadureceram diferentes cinematografias independentes que se produziram fora do eixo da TV Globo, mas ancorados numa estratégia mercadológica do circuito fechado de cinema alternativo, que foram feitos a partir de diversos arranjos produtivos cinematográficos, envolvendo produtoras situadas em estados e regiões distintas do Brasil. O sucesso na crítica especializada e nos festivais brasileiros provaram que dentro do discurso hegemônico do cinema comercial contra o cinema autoral, este último ainda luta como uma estratégia de resistência e ampliando seu público cada vez maior, mesmo que saibamos que as películas da Globo Filmes estejam numa disputa com os blockbuster hollywoodianos pelo mercado exibidor brasileiro.
Se avaliarmos o cinema brasileiro dentro dos termos “nacional” e “popular”, percebemos o quanto se transformou na década de 1960, em termos “político” e “comercial”, assim como “independente” e “televisivo” já na década de 1990. Contudo, hoje podemos compreender o quanto o cinema brasileiro na Retomada é acima de tudo um cinema fruto da diversidade e aberto para novas cinematografias e que, diante da nova Lei da TV Paga (2012), boa parte dessa produção tão diversificada encontrará na televisão fechada um espaço para se popularizar, conforme cresce sua demanda, e então consolidar-se como produto genuinamente “nacional” e “popular”.
*Clique aqui para ler a primeira parte do artigo e aqui para ler a segunda