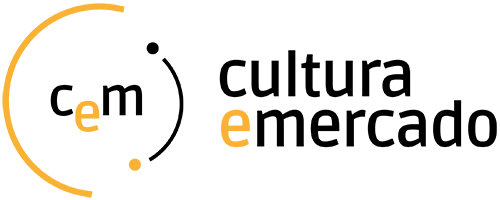Na Câmara, ministro afirma que a reivindicação é ?realista? porque as atividades culturais representariam ?bem mais que 1% do PIB?; Gil critica ?perversão neoliberal?Por Sílvio Crespo
15/05/2003
O discurso do ministro da Cultura, Gilberto Gil, ontem na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados partiu de uma breve análise quase antropológica do conceito de ?cultura? e chegou a abordar pontos de ordem prática, como os problemas enfrentados pela Funarte, pelo Museu Nacional de Belas Artes, pela cidade de Ouro Preto e outros.
1% para a Cultura
Procurando enfatizar a importância da cultura e a situação em que as instituições do setor se encontram, o ministro pediu para sua pasta 1% do orçamento da União. Gil defendeu que a quintuplicação do orçamento do MinC, que hoje é de 0,2%, não é uma proposta ?esdrúxula?, já que o ministério ?responde por atividades que representam bem mais do que 1% do PIB nacional?.
No ano passado, o Instituto Pensarte escreveu um manifesto que tinha como ponto principal a reivindicação de aumentar para 1% o orçamento da Cultura. Logo que Gil foi nomeado ministro, ainda antes da posse, o IP entrgeou a ele o manifesto. “Temos que defender essa visão”, afirmou o ministro, na época.
Mercado promissor
Citando estudo da Fundação João Pinheiro, o ministro deu uma idéia da dimensão do mercado cultural brasileiro. Em meados da década de 1990, havia mais de 500 mil pessoas empregadas no setor, ?um contingente 90% maior do que o empregado na fabricação de equipamentos e material elétrico e eletrônico; 53% superior ao da indústria automobilística e de autopeças; 78% superior ao empregado em serviços industriais de utilidade pública?, afirmou.
?E mais: para cada milhão de reais investido, a economia da cultura chega a gerar, em média, 160 empregos diretos, com um salário médio que é o dobro da média do conjunto das atividades econômicas. Enfim, o panorama traçado por este estudo dá conta de um quadro dinâmico e promissor, que não refluiu de 1998 para cá, e que, também, precisa ser incrementado?, concluiu o ministro.
?Perversão neoliberal?
Gil não poupou críticas à gestão anterior: ?na cultura, a irresponsabilidade ou, talvez fosse melhor dizer, a perversão neoliberal foi mais longe do que em qualquer outra área?. Para o ministro, os antigos governos entregaram a política cultural a comunicólogos e marqueteiros?.
Inclusão
?Não trabalhamos com um conceito acadêmico, restritivo e elitista de cultura?, afirmou o tropicalista. Ao contrário, o ministro afirmou que sua intenção é ?incluir na cultura, franqueando a todos o acesso à produção e ao consumo dos bens e serviços simbólicos, e incluir pela cultura, como atividade econômica geradora de emprego e renda?. Para ele, a cultura deve ir ?do cultivo da memória à aposta no novo?.
Leia abaixo a íntegra do discurso de Gilberto Gil na Câmara.
BRASÍLIA, 14 DE MAIO DE 2003
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes.
O meu propósito é estabelecer entre nós, entre o Ministério da Cultura e esta Casa, entre o ministro e os deputados, o melhor entendimento possível, a comunicação mais clara, de modo que não haja qualquer equívoco acerca de conceitos, noções ou palavras. E digo isto por uma razão muito simples. Quando falamos de saúde, alfabetização, superávit primário, preservação ambiental ou obras de infra-estrutura, por exemplo, todos sabem a que estamos nos referindo, todos têm uma noção muito precisa da matéria a ser tratada. Mas, quando empregamos a palavra cultura, não é bem isto o que acontece. Aqui, a nitidez parece condenada a se perder, a se esfumaçar, e a imprecisão toma conta da cena. Seja numa conversa informal, seja numa conferência, num ensaio ou num discurso, a palavra cultura sempre se presta a interpretações múltiplas. É como se cada um de nós tivesse o seu próprio conceito de cultura ? e dele dificilmente se desprendesse.
Mesmo no âmbito mais propriamente intelectual, topamos com nada menos do que quatrocentos modos de definir o que é cultura. E é evidente que esta proliferação conceitual, atendendo a todos os gostos, correntes e opiniões, faz com que cada um de nós, ao ouvir a palavra “cultura”, costume traduzi-la à sua própria maneira e em seu próprio dicionário. Por isso mesmo, vou começar delimitando claramente o que nós, do Ministério da Cultura, queremos dizer quando usamos esta expressão.
Tradicionalmente, a maioria das pessoas, diante da palavra cultura, pensa automaticamente no conjunto das formas canonizadas pela cultura ocidental-européia. Pensa em literatura, em teatro, em pintura, em concertos musicais, em estilos de dança como o balé ou, mais modernamente, em cinema, depois que esta forma de criação foi consagrada, pelos intelectuais, no terreno da arte. Dito de outro modo, as pessoas pensam, automaticamente, no círculo restrito das formas que habitam o campo da assim chamada “cultura superior”. Agem, então, como se cultura fosse isso. O que não cabe nesse universo não merece ser definido pelo uso puro e simples do vocábulo cultura. Tem de ser referido com a colocação de um anexo verbal para restringir o conceito – como no caso de expressões como “cultura de massas” e “cultura popular” – ou mesmo pela adoção de uma outra palavra, como “folclore”.
Existiria, então, acima de tudo, “a cultura”. E só em seguida manifestações laterais, secundárias, pitorescas ou inferiores, que deveriam ser vistas como departamentos, setores ou guetos da “cultura propriamente dita”. Fica patente, nesta espécie de entendimento do fenômeno, a existência do preconceito cultural. Para nós, do Ministério da Cultura do Governo Lula, de um governo essencialmente transformador e democrático, de um governo que pretende – e vai – mudar o país, esta não é, de modo algum, uma visão saudável, lúcida ou justa da realidade cultural. E é por esta razão que não trabalhamos com um conceito acadêmico, restritivo e elitista de cultura. Adotar um conceito restritivo de cultura seria também, por implicação lógica, fazer com que o Ministério fosse um órgão voltado para uma clientela preferencial, para o atendimento exclusivo da assim chamada “classe artístico-intelectual”, com todos os seus rituais de criação e consagração. E não é para isto que estamos aqui. Não foi para isto que nos engajamos num governo cujo objetivo maior é a recuperação da dignidade nacional brasileira, o que, entre outras coisas, significa uma concentração incansável no problema da inclusão social. O que nós queremos é justamente isto: incluir. Incluir na cultura, franqueando a todos o acesso à produção e ao consumo dos bens e serviços simbólicos. E incluir pela cultura, como setor dinâmico da economia, como atividade econômica geradora de emprego e renda.
Daí que a nossa visão de cultura seja a mais ampla e realista possível, levando em conta, radicalmente, tanto a unidade quanto a multiplicidade cultural brasileira, em suas diversas regiões geográficas e camadas sociais. Como disse no meu discurso de posse, quando falamos de cultura, estamos empregando a palavra em sua acepção plena. Em seu sentido antropológico. Cultura como a dimensão simbólica da existência social brasileira. Cultura como o conjunto dinâmico de todos os atos criativos de nosso povo. Como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Como aquilo que, em cada objeto que um brasileiro produz, transcende o aspecto meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de cada comunidade e de toda a nação. Como eixo construtor de nossa identidade. Como espaço de realização da cidadania. Cultura como síntese do Brasil.
E isto num espectro amplo. Num espectro que, para dizer sinteticamente, vai da tradição à invenção, do cultivo da memória à aposta no novo. Porque temos de preservar o que de melhor criamos e construímos ao longo de nossa vida histórica, sob pena de girarmos a vácuo, de nos perdermos num presente instantâneo e desfigurador e de, assim, não reconhecermos mais o nosso rosto. Na verdade, tentaram nos fazer acreditar, nesses últimos dez anos, que os Estados e as culturas nacionais eram seres em vias de extinção. Que a globalização dissolveria os Estados e converteria cada alma nacional num mito inútil. Mas não é isto o que estamos vendo. As questões e os interesses nacionais se encontram hoje no centro mesmo das disputas nos mercados globalizados. E a cultura de cada povo passa a ser vista, mais e mais, como fator estratégico de afirmação interna e externa de cada nação. É desta perspectiva que encaramos a nossa memória – e que apostamos no novo. Porque o novo é também fundamental para a nossa afirmação. E porque este jogo ou esta dialética permanente entre a tradição e a invenção tem sido um traço central da cultura brasileira, somado à nossa abertura crítica para a assimilação e a recriação de linguagens e informações produzidas nos mais variados cantos do planeta. Exemplos disso não nos faltam. Para citar apenas alguns mais recentes, lembro aqui a Bossa Nova; o prodígio da construção de Brasília, em terras da antiga Capitania de Porto Seguro; e até mesmo uma vanguarda radical como a da poesia concreta. João Gilberto parte do samba de roda da Bahia, Niemeyer e Lúcio Costa não perdem Ouro Preto de vista, a poesia concreta mistura o barroco, o ideograma chinês e as aventuras das vanguardas internacionais.
O modo como as nossas cidades foram desenhadas e construídas, o artesanato nordestino como base de um novo desenho industrial brasileiro, o conhecimento íntimo que os caboclos detém acerca das riquezas amazônicas, a ousadia de Santos Dumont com o seu 14-Bis, a explosão do rap em meio aos jovens das favelas e dos subúrbios brasileiros, as nossas diversas técnicas culinárias, a criação do parque nacional do Xingu, os nossos modos de participar da teia nervosa da Internet, os desdobramentos do forró e da música caipira, os padrões abstratos da tecelagem rural, os terreiros de candomblé, as condições que geraram o sindicalismo do ABC, o horizonte dos novos estilos vestuais, a luta pela reforma agrária, os fragmentos culturais dos meninos de rua, os sobrados e os conventos barrocos, as formas e práticas trazidas pelas migrações euroasiáticas do século passado, as fortalezas coloniais, os novos passos de dança, os espaços de tolerância e de convívio, a nossa disposição para criar e recriar – tudo isso nos interessa, tudo isso nos diz respeito, tudo isso exige de nós o nosso olhar sensível. Um olhar que saiba dar conta da nossa riqueza anímica. Que saiba reconhecer, em cada pequeno ou grande gesto que fazemos, uma expressão de nossos jeitos de estar, de sentir, de pensar e de fazer. Porque, recusando a herança alienada de nossas elites, que parecem ter vergonha do que fomos, do que somos e do que fazemos, acreditamos na roda de samba, no futebol de várzea, na mestiçagem, no sincretismo, na visão de homens como Mário Pedrosa e Mário Schenberg, e na grandeza do povo brasileiro, por ter sido capaz, ao longo dos seus 500 anos de existência, sob o fogo da adversidade e o afago de uma moldura natural paradisíaca, construir uma civilização exuberante, vigorosa e criativa, que a cada dia conquista e fascina outros povos que se debatem nos seus impasses em busca de soluções para conflitos político-sociais.
Por tudo isso, podemos dizer, em suma, que vemos o Brasil como um fato de cultura. E que é por isso mesmo que, para nós, as questões da nação, da identidade e da cultura se acham entrelaçadas. Nesse caso, aliás, o Brasil se apresenta quase que como um paradoxo: a nossa multiplicidade cultural é um fato – a nossa unidade, também. Construímos um país sincrético, múltiplo e diverso, mas ao abrigo da língua portuguesa. Partilhamos, fundamentalmente, os mesmos valores e códigos de cultura. Criamos uma unidade dentro das nossas fronteiras, que é o que faz com que um peão gaúcho, um crioulo carioca ou baiano, um caipira paulista, um lavrador mineiro, um dançarino de frevo de Pernambuco, uma rendeira do Ceará, um tocador de viola de Goiás, uma adolescente praiana de Santa Catarina ou do Espírito Santo, um empresário paranaense e um caboclo da região amazônica – apesar de todos os traços culturais distintos e distintivos que carregam – se sintam, e de fato sejam, igualmente brasileiros. Não temos nada de equivalente a um “país basco” dentro do território nacional. Nossas fronteiras políticas se converteram, historicamente, em fronteiras culturais, antropológicas.
Mas a verdade é que ainda não somos uma nação por inteiro. Ainda não completamos a tarefa da construção nacional, no sentido maior que a expressão implica. O motivo, todos sabem. A cidadania não chegou para todos. As leis não vigoram para todos. O Brasil ainda não é o Brasil de todos, como dizia o presidente Lula na campanha eleitoral, frisando a necessidade de construirmos um país mais solidário e mais fraterno. Porque a verdade é que um país que conta, em sua população, com cerca de 40 a 50% de “excluídos”, pode ser um país, mas ainda não é uma nação, em toda a sua inteireza civilizacional. A nação ainda está por completar a sua obra, eliminando as desigualdades, as discriminações, o preconceito e a fome. E nós sabemos que a cultura tem um papel fundamental nessa tarefa conclusiva, a fim de dar completude ao processo de construção nacional. Um papel que é, para usar uma imagem arcaica, o da argamassa que agregou os mais díspares materiais para a construção das sólidas bases do nosso patrimônio histórico e cultural. E, para usar uma imagem contemporânea, o papel do software num sistema complexo de valores.
Fica claro, então, porque falamos de cultura como espaço de realização da cidadania. Mais ainda: como espaço de superação da exclusão social, seja pelo reforço da auto-estima e do sentimento de pertencimento, seja, também, por conta das potencialidades inscritas no universo das manifestações artístico-culturais, com suas várias possibilidades de inclusão sócio-econômica. Porque a cultura tem de ser vista, também, em sua dimensão econômica. Em sua capacidade de atrair divisas para o país – e de, aqui dentro, gerar emprego e renda.
Um bem simbólico é, ao mesmo tempo, um produto cultural, político e econômico. O Brasil, hoje, mesmo que de forma ainda tímida, é um país exportador de bens culturais. Nossos filmes, nossas canções e nossas telenovelas circulam hoje por todo o planeta. E isto significa captação de divisas. No plano interno, um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro mostrou que, em meados da década de 1990, já havia mais de 500 mil pessoas empregadas na produção cultural brasileira. Um contingente 90% maior do que o empregado na fabricação de equipamentos e material elétrico e eletrônico; 53% superior ao da indústria automobilística e de autopeças; 78% superior ao empregado em serviços industriais de utilidade pública, como energia elétrica, distribuição de água e esgotos e equipamentos sanitários. E mais: para cada milhão de reais investido, a economia da cultura chega a gerar, em média, 160 empregos diretos, com um salário médio que é o dobro da média do conjunto das atividades econômicas. Enfim, o panorama traçado por este estudo dá conta de um quadro dinâmico e promissor, que não refluiu de 1998 para cá. E que, também, precisa ser incrementado.
Diante destes dados é impossível deixar de fazer uma constatação preocupante. Ao longo destes últimos dez anos, o Estado restringiu a sua ação no campo da cultura quase que exclusivamente à utilização dos mecanismos de incentivos fiscais. Inaceitavelmente, abdicou do papel de promover políticas de fomento e financiamento dos produtores culturais e mesmo de políticas industriais, por exemplo, nos campos da música e do cinema, capazes de ampliar a escala desta economia da cultura. No caso específico da produção musical brasileira é preciso que se diga que o crescimento da indústria fonográfica em nosso país, situada hoje entre as dez maiores do mundo, se deu independentemente de qualquer política pública voltada para o setor.
Assim compreendida, a cultura se impõe, desde logo, no âmbito dos deveres estatais. É um espaço onde o Estado deve intervir. Não segundo a velha cartilha estatizante, mas mais distante ainda do modelo neoliberal que faliu. Vemos o Governo como um estimulador da produção cultural. Mas também, através do MinC, como formulador e executor de políticas públicas e de projetos para a cultura. Ou seja: pensamos o Ministério da Cultura no contexto em que o Estado começa a retomar o seu lugar e o seu papel na sociedade brasileira. Daí que três desafios se imponham agora ao Ministério. Primeiro, retomar nosso papel constitucional de órgão formulador e executor de uma política cultural para o país, o que vai exigir a deflagração de um amplo processo participativo capaz de subsidiar a construção dessa política. Segundo, fazer a nossa reforma administrativa e a nossa correspondente capacitação institucional para operar tal política. Terceiro, obter os recursos financeiros indispensáveis à implementação desta política, inclusive avançando propostas nas áreas de fomento e crédito às atividades de produção de bens e serviços culturais, instrumentos necessários a um verdadeiro desenvolvimento cultural.
Esses três desafios resultam da herança que recebemos. Desde o Governo Collor, o Ministério da Cultura definhou. Sua estrutura apequenou-se. O MinC perdeu sua capacidade política, técnica e gerencial. Desmantelado, foi incapaz, por exemplo, de operar integralmente os instrumentos previstos no Programa Nacional de Apoio à Cultura, a conhecida Lei Rouanet. Mas o mais grave foi que o Ministério abandonou por completo aquela que deveria ser a sua função maior. Em vez de ter uma política cultural para o país, simplesmente entregou essa tarefa ao mercado, aos departamentos de comunicação e marketing das empresas, pela via dos incentivos fiscais. E assim chegamos a uma situação absurda: a política cultural passou a ser pensada e executada não pelo Ministério da Cultura, mas por comunicólogos e marqueteiros voltados para atender aos interesses particulares de suas empresas. Por esta lógica, a cultura e suas criações só adquiriam alguma relevância caso pudessem vir a reforçar a imagem corporativa das empresas. Não quero, com isso, menosprezar a ação empresarial no plano da cultura, mas chamar a atenção para um pecado central: o Ministério se demitiu de sua missão. Jogou na lata do lixo o papel para o qual foi criado. Logo, promoveu a sua impotência, abriu mão de seu sentido, decretou a sua agonia.
Na cultura, a irresponsabilidade ou, talvez fosse melhor dizer, a perversão neoliberal foi mais longe do que em qualquer outra área. Sabemos muito bem que o neoliberalismo levou a saúde e a educação, em nosso país, a um estado deplorável. Porque o neoliberalismo parece incapaz de fazer a mais elementar das distinções. Um consumidor pode escolher consumir vinho – e, como se trata de uma escolha, o preço do vinho pode ser entregue aos mecanismos de mercado. Mas, ao contrário, cidadão algum escolhe ficar doente – e, como não se trata de uma escolha, o seu corpo não pode ser tratado como mercadoria, a sua saúde não pode ficar à mercê da lei do mercado, que é, sempre, a lei do mais forte. De qualquer modo, bem ou mal (mal, na verdade), nossas escolas não deixaram de funcionar e de receber alunos. Nem deixou de funcionar, apesar de todo o descaso e de todos os desrespeitos, o nosso sistema de saúde. Na cultura, a situação é mais calamitosa. O Ministério, muito simplesmente, não tem capacidade de atuar em todo o território nacional. E o resultado é que os senhores e as senhoras bem conhecem.
Tomemos, por exemplo, o caso do patrimônio histórico nacional, área que não costuma freqüentar as listas de prioridades de patrocínio das empresas. O resultado aqui foi desastroso. A memória nacional está desaparecendo entre incêndios e desabamentos. Patrimônios da humanidade, como Ouro Preto, encontram-se em situação de risco, preocupando, inclusive, organismos internacionais como a Unesco – um quadro em tudo distinto do que se vê na Europa, onde o patrimônio histórico alimenta uma bem sucedida economia do turismo, inclusive com o concurso de divisas gastas por turistas brasileiros. A imagem mais bem acabada da desresponsabilização do Estado, na preservação do patrimônio histórico, é a escandalosa situação em que se encontra hoje o Iphan, que se mantêm funcionando graças à ação heróica dos seus funcionários. Burocracia pública que já desfrutou de altíssima qualidade técnica, já há 25 anos que não realiza concursos para a contratação de funcionários. Faltam um plano de carreira e salários condizentes. Nos seus escritórios regionais faltam, também, além de pessoal especializado, equipamentos e condições mínimas para que o trabalho possa ser realizado.
Situação semelhante à do patrimônio é a que experimentam os museus sob a guarda do Governo Federal – instituições que, volto uma vez mais à Europa, são absolutamente fundamentais às atividades da economia turística. Em alguns, como o importante Museu Nacional de Belas Artes, o acervo corre sérios riscos. É obrigado, diariamente, a driblar a crônica falta de pessoal, a ausência de condições climáticas adequadas à sua conservação, além das goteiras que caem do teto, das inundações e das constantes ameaças de incêndio provocadas por curto-circuitos na instalação elétrica, que de há muito não recebe qualquer tipo de manutenção.
Ou seja, o patrimônio histórico-cultural brasileiro está caindo aos pedaços, comprometendo irremediavelmente o conhecimento que podemos ter de nós mesmos, base para a nossa afirmação como povo e nação. Mas não se resume ao patrimônio histórico-cultural a dramaticidade da situação atual. Veja-se o caso da Funarte. Além de ter suas unidades e equipamentos sucateados, a entidade hoje atua exclusivamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. É o retrato mais bem acabado de uma política provincianizante, de uma inaceitável e perigosa centralização e concentração de recursos e ações do MinC, a despeito das necessidades do restante do país na área cultural.
É desse quadro que emerge o tríplice desafio de que falei. Desafio cujo pano de fundo é a urgente necessidade da volta do Estado ao campo da cultura, expressando-se através da centralidade insubstituível do MinC, no papel estratégico de promotor do desenvolvimento cultural da sociedade brasileira e, em conseqüência, de criador de condições indispensáveis à construção da cidadania em nosso país, já que o combate à exclusão social passa necessariamente por uma ação de inclusão cultural, que garanta a pluralidade de nossos fazeres, o acesso universal aos bens e serviços culturais e à criação, produção e difusão desses mesmos bens.
Para isso, precisamos concretizar o nosso projeto de reforma administrativa. Porque esta reforma, dissolvendo áreas de sombreamento e diluindo entraves burocráticos, é que vai dar o mínimo de condições para que o Ministério da Cultura possa, de fato, desempenhar as suas funções e cumprir o seu papel. Encontramos um Ministério esfacelado, desmobilizado, sem capacidade de planejamento, sem poder de visão ou de antevisão, reduzido à rotina mais medíocre, sem estrutura para assumir a amplitude dos seus reais desígnios e do seu verdadeiro raio de ação. Enfim, encontramos uma casa praticamente abandonada, vítima do desleixo administrativo e, surpreendentemente, da incompreensão do significado básico da cultura para a grande obra construtiva nacional. Inevitavelmente, os remendos que foram sendo aplicados à estrutura original, ao sabor dos caprichos governamentais de momento, desfiguraram completamente o aparato administrativo numa entidade franksteiniana. Durante esses meses iniciais, procedemos a uma reforma possível, dentro das limitações e dificuldades financeiras com que nos defrontamos. Não é a reforma ideal. É a reforma que poderá dar ao MinC, como dissemos, um mínimo de condições para desemperrar a máquina – e atuar.
Mas é claro que a reforma administrativa, que dê ao MinC a estatura indispensável ao cumprimento histórico de seu papel, ainda não é suficiente. Simultaneamente, na outra ponta da meada, temos de encarar a questão do financiamento da execução da política cultural do Governo Lula, sem a qual será praticamente impossível que as coisas saiam do papel – ou que deixem a luz do sonho para existir à luz do sol. E aqui o que vem para o centro da discussão é a necessidade de uma ampliação dos mínimos, dos insignificantes recursos do Ministério. Com apenas 0,2% do orçamento federal, o Minc praticamente não dispõe de recursos para a implementação de suas políticas – situação agravada, presentemente, com o contingenciamento de mais de 51% dos seus recursos orçamentários, que reduziu nossas ações a tão somente custeio e manutenção.
Propomos, então, que caiba ao MinC um mínimo de 1% – vejam bem as senhoras e os senhores: um mero e simples 1% – do orçamento da União. Porque o Ministério da Cultura não pode continuar sendo uma peça lateral, decorativa, um arranjo floral de salões governamentais. Como todos podem ver, não estamos fazendo nenhuma reivindicação esdrúxula, incabível ou insensata. Estamos reivindicando, de forma realista, com os pés no chão, ao menos 1% do orçamento, para uma Pasta que responde por um conjunto de atividades produtivas que representam, segundo estudos disponíveis, bem mais que 1% do PIB nacional. Ao lado disso, pretendemos desenvolver duas ações. De uma parte, desenvolver mecanismos que possam incrementar os fundos hoje disponíveis para a ação do Estado na dimensão cultural da vida brasileira. Neste particular, criatividade é a palavra de ordem. Tal é o caso da Loteria da Cultura, já proposta pelo MinC e em estudo nas áreas competentes do Governo. De outra parte, reconfigurar o Programa Nacional de Apoio à Cultura, a Lei Rouanet, em pelo menos três direções.
Primeiro, a regulamentação do Fundo Nacional de Cultura, estabelecendo critérios claros para a aplicação de seus recursos. Segundo, a ativação dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico, que, apesar de regulamentados desde 1995, ainda hoje não entraram em funcionamento. Vale destacar que tanto o FICART, quanto o FUNCINE, este um fundo de investimento voltado integralmente para a produção cinematográfica, podem vir a representar possibilidades reais de sustentabilidade, pela via do mercado, de vários setores da produção cultural no nosso país. Nesse sentido, o MinC vai mobilizar ações junto às instituições de fomento e aos bancos públicos e privados que trabalham com fundos de investimento. Terceiro, a revisão da legislação de incentivos fiscais que suporta a erroneamente chamada ação do “mecenato”, cujo desempenho, através da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual, acumulou distorções de toda ordem – entre elas, ausência de contrapartida financeira do parceiro privado, concentração regional dos benefícios, aberrações fiscais, surgimento de fundações privadas de grandes empresas, em larga medida criadas e alimentadas com dinheiro público.
Nessa reconfiguração do Programa Nacional de Apoio à Cultura, temos de encarar, enfim, a questão das grandes empresas estatais, que figuram entre os maiores utilizadores dos recursos postos à disposição da produção cultural brasileira, através da renúncia fiscal. E, aqui, não posso deixar de fazer, desde logo, três observações. A primeira: as estatais têm sido as maiores e quase que as únicas financiadoras da produção cultural brasileira. Isto porque, depois que a legislação permitiu que empresas pudessem utilizar a renúncia fiscal em proveito próprio, através dos seus institutos e fundações, empresas e bancos privados praticamente deixaram de financiar os produtores culturais. Assim é que muito do que de relevante foi feito nos últimos anos na cultura – a exemplo da retomada da produção cinematográfica brasileira – se deve ao apoio fornecido por algumas estatais. A segunda: ainda que legal, a utilização de recursos incentivados pelas empresas estatais, nesse caso, é essencialmente um problema político. Precisamos definir critérios e prioridades que possam orientar com transparência e legitimidade o uso dos recursos públicos gerados pela renúncia fiscal. A terceira: a mídia se ocupou quase que obsessivamente, nesses últimos dez ou quinze dias, de uma suposta queda-de-braço em torno do assunto, envolvendo os ministros Gushiken e Gil.
Quero chamar a atenção, aqui, para algumas coisas. Antes de mais nada, para o fato de que, pela primeira vez, estamos lidando com critérios objetivos, visíveis, independentemente da concordância ou não que tenhamos com os que foram apresentados. Toda essa discussão só foi possível porque esses critérios foram apresentados no “site” de uma empresa estatal. Aconteceu foi que o Ministério e a Secretaria de Comunicação tinham pontos de vista descoincidentes sobre a matéria. E como ambos se manifestaram publicamente, foi um deus-nos-acuda. Houve uma vigorosa reação dos artistas diante do que eles classificaram como tentativa de “dirigismo cultural” por parte da Secom. E ocorreu, então, o debate público – debate franco e generoso, é bom que se diga. Uma coisa lógica e natural. Mas parece que muita gente ainda não se habituou ao fato de que estamos num Estado democrático, onde a discussão é enriquecedora e vital para todos, e que só governos autoritários se apresentam o tempo todo de maneira monolítica e indecifrável para a sociedade. Daí que se tenha criado a célebre tempestade em copo d’água. E a mídia, para “esquentar” suas matérias, caprichou no maniqueísmo. Fantasiou-se um duelo entre o MinC e a Secom. Mas, embora correndo o risco de decepcionar os decepcionáveis, devo dizer, alto e bom som, que eu e o ministro Gushiken somos aliados, somos companheiros, militantes de um governo que quer que o Brasil dê certo. Que não vamos nunca deixar de debater, pessoal e publicamente, eventuais divergências. E que o MinC discordou da proposta da chamada “contrapartida social” pelo simples fato de que ela não faz sentido algum no mundo da cultura.
Primeiro, porque a busca de referências externas que possam vir a justificar o uso de recursos públicos para o desenvolvimento cultural e sua importância “social” reflete, de uma ou outra maneira, uma compreensão estreita acerca do papel estratégico da cultura para o povo brasileiro e para o novo ciclo de desenvolvimento que o Brasil haverá de experimentar com o Governo Lula. Falar em “contrapartida social” era querer aplicar um conceito contábil, uma rubrica de livro de ocorrências financeiras, a um universo de produção simbólica, cujos desdobramentos sociais estão como que embutidos em si mesmo. Vale lembrar que países como os EUA construíram seu desenvolvimento, sua coesão interna e sua hegemonia no mundo tendo como um dos pilares centrais sua afirmação cultural e seu desenvolvimento nesta área, inclusive do ponto de vista econômico. Infelizmente, o Estado, no Brasil, até hoje, nunca teve clareza suficiente para cumprir seu papel, que é absolutamente insubstituível, na consolidação do nosso desenvolvimento cultural.
Dito isso, voltemos à questão das estatais. Penso que é preciso, em primeiro lugar, separar claramente a natureza do dinheiro envolvido. Porque temos dois dinheiros na mesa. Um é o dinheiro, a verba de comunicação e marketing, que pode eventualmente ser usado em ações culturais. Isto concerne, é claro, a decisões empresariais de ordem mercadológica e corporativa. Mas outro, bem outro, é o dinheiro que essas empresas investem em atividades de cultura com recursos obtidos através dos mecanismos de incentivo fiscal. São dois dinheiros nitidamente distintos. E foi sobre este segundo dinheiro que a discussão se estabeleceu. É ele que nos diz respeito. Porque, neste caso, o que está sendo investido é dinheiro público, resultante de uma renúncia fiscal por parte do Estado, com objetivos claramente definidos em lei específica. Nada mais correto, politicamente – ainda mais por conta do caráter estatal dessas empresas -, que seja o próprio Estado a decidir sobre parte da destinação desses recursos. E mais: que o faça tendo como norte uma política pública para a cultura brasileira – e, como seu executor, o ator institucional criado para formular e executar tal política: o Ministério da Cultura. Caso contrário, vamos ter patrocínios conjunturalmente desnecessários, enquanto Ouro Preto e o Recôncavo Baiano desabam – e os jovens da periferia, sem alternativas culturais e econômicas, se entregam mais e mais ao tráfico de armas e de drogas.
Por fim, devo falar de quatro linhas de ação que o Ministério já definiu para o seu próximo desempenho. Uma delas, que os meus companheiros do MinC batizaram à minha revelia, é o Projeto Refavela. O Projeto Refavela é, na verdade, um vasto programa de apoio às iniciativas culturais que nascem, e na maior parte das vezes morrem, nas periferias e no interior do nosso país, sem que o Brasil possa se dar conta de quanto talento é capaz o seu povo. É um projeto que irá ao encontro da criatividade popular não apenas para levar apoio institucional e técnico, oferecendo aos grupos locais condições reais de expressão, desenvolvimento dos talentos e métodos modernos de comunicação, mas sobretudo a troca de informações e experiências que permitirão livrá-los do anonimato e dos guetos a que estão confinados.
Outra linha diz respeito, totalmente, ao Patrimônio. O patrimônio histórico do Brasil está seriamente ameaçado. Acontece que ele não é apenas o que para muitos parece ser. Isto é: problema, coisa velha, relíquia descartável, assunto do governo e não da sociedade. É fundamental que consigamos dar uma guinada de 180 graus nessa atitude generalizada. Quando é que iremos entender que o patrimônio histórico brasileiro, assim como o europeu, pode se constituir numa riqueza ainda inexplorada, através do turismo cultural, ainda hoje praticamente impraticado no país? Através do urgente soerguimento do Iphan – sim, porque o Iphan é o primeiro bem a ser recuperado para dar conta dessa imensa tarefa – e do Programa Monumenta (o qual, em apenas quatro meses, acordou da letargia em que se encontrava desde a sua criação), vamos fazer a revolução cultural que o nosso patrimônio histórico espera.
Além disso, vamos insistir em nossa visão da cultura como economia. E, no plano exterior, na defesa ideológica e mercadológica de nossos bens e serviços de cultura, lembrando que o Brasil pode e deve capitanear a discussão sobre diversidade cultural e circulação de bens e serviços culturais que freqüenta os vários fóruns internacionais, construindo alternativas reais às propostas que vêm sendo apresentadas pelos EUA.
Em resumo, é isto. Queremos a reforma administrativa do MinC e a ampliação de nossos recursos, como condições indispensáveis à existência do Ministério, no momento em que nos propomos a mudar o Brasil. De outra parte, queremos a reforma da legislação em vigor para dar suporte institucional a um novo desenvolvimento cultural e ao seu sistema público de apoio e queremos a implantação da Loteria da Cultura – que, neste momento, ainda está sendo discutida no âmbito do Poder Executivo, após o que será remetida à apreciação do Congresso Nacional. E, ainda, por outra, estamos prontos para atuar na periferia das grandes cidades brasileiras, para recompor e revitalizar o nosso patrimônio, para incrementar a capacidade de inclusão social da cultura como setor dinâmico da economia brasileira, para fortalecer internamente a nossa produção de bens culturais e para defender a existência desses bens perante o planeta.
Perante nós e perante o mundo. Porque a verdade é que o Brasil parece não ter, ainda, consciência da civilização que criou. Por isso mesmo, senhoras e senhores, a minha vinda a esta Casa tem também o sentido de uma convocação. De uma convocação carregada de intensidade prática. O MinC não vai cumprir integralmente o seu papel se atuar de forma solitária. Nós vamos precisar do apoio – mais do que do apoio, do engajamento – da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional. Porque a nossa tarefa, neste momento histórico, pode ser tudo, menos pequena. De uma parte, estamos atentos, o tempo todo, para a curiosidade, para a expectativa mundial hoje existente acerca do Brasil e dos brasileiros, especialmente depois da eleição do presidente Lula. Na verdade, a Europa se acha, hoje, às voltas com fenômenos que vivenciamos desde o século 16: os fenômenos da mestiçagem genética e do sincretismo cultural. De outra parte, sabemos que, pela civilização que criamos em meio milênio de existência histórica, somos portadores de uma mensagem de alcance planetário. Que temos um recado a dar ao mundo e que estamos, nesse momento, aquém dessa demanda mundial. Para respondê-la, será necessário que o Estado esteja à altura da criatividade e da grandeza do povo brasileiro.
Copyright 2003. Cultura e Mercado. Todos os direitos reservados.