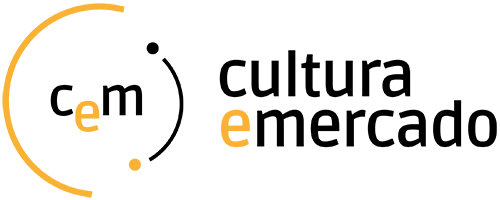Além de não atender às grandes empresas, a Lei Rouanet tampouco atende às empresas médias e pequenas do setor cultural. Mas este assunto parece ser tabu, já que todas as discussões que têm sido feitas em torno da Lei Rouanet, em particular, e das leis de incentivos, em geral, focam as vantagens extraordinárias que essas leis concederiam às empresas patrocinadoras, ou então, o ponto de vista mais amplo de uma política nacional – salientando seu papel no reforço das distorções do mercado que geram a concentração da oferta nos lugares de maior desenvolvimento econômico e, portanto, de maior volume de consumidores com condições econômicas e, sobretudo, culturais e educacionais de consumir os bens e/ou serviços culturais ofertados. Mas, por incrível que pareça, tratando-se de um instrumento que, em princípio deveria estar voltado para o fortalecimento econômico do setor, não há nenhuma discussão que leve em conta o ponto de vista das empresas culturais patrocinadas, isto é dos proponentes de projetos culturais, que são em sua enorme maioria empresas de médio e pequeno porte. (IBGE, 2003).
Não se discute, por exemplo, que essas empresas precisam buscar o patrocínio porque praticamente não encontram outra alternativa para conseguir financiamento para sua produção. Isto ocorre porque a distinção radical entre bens tangíveis e intangíveis com que opera a economia tradicional e a clara opção pelos bens tangíveis faz com que a produção cultural, que se utiliza de recursos imateriais, tenha muita dificuldade em conseguir, por exemplo, um financiamento bancário. Um artesão, que utiliza máquinas ou instrumentos, mesmo que rudimentares, e que utiliza matéria-prima material – como barro, argila, palha ou madeira – tem mais possibilidades de conseguir um empréstimo bancário do que uma empresa na área de serviços – como por exemplo – (para que se perceba que o problema não se restringe à á rea cultural) – uma empresa de pesquisa de mercado. Isso porque, na hora de exigir garantias os bancos não aceitam contratos ou promessas de compra. Não adianta dizer que a sua pesquisa vai ser comprada pela Volkswagen ou pela Votorantim. Mas se você dispuser de um quarto cheio de palha ou de sacos de argila – isso é considerado garantia pelo banco.
O oferecimento de garantias materiais na tomada de empréstimos é o primeiro problema que as empresas culturais, juntamente com as outras empresas do setor do trabalho intelectual ou criativo, encontram para conseguirem financiamentos. Não por acaso, pesquisa informal, ainda em andamento, conduzida pela autora juntamente com a professora Tânia Limeira da Fundação Getúlio Vargas com empreendedores culturais de São Paulo, mostrou que uma parcela recorre a empréstimos pessoais junto aos bancos, hipotecando seus carros, casas e outros bens pessoais de valor, tal como foi citado na reportagem do Estado de São Paulo.
O segundo problema ocorre pelo alto teor de risco embutido na produção cultural. David Hesmondhalgh (2007), apontou, entre as especificidades dos produtos culturais, o fato de eles não poderem ser pré-testados e, portanto, sua produção envolver um risco econômico muito alto. Isto acontece, por exemplo, com um filme, que só pode ser testado quando está finalizado e montado. Nessa altura, a maior parte dos gastos já foi feita e são totalmente irrecuperáveis. Segundo dados apresentados em Hesmondhalgh (2007), pesquisa do ano de 1996, feita por Ronald V. Bettig, mostrou que, dos 350 filmes lançados nos Estados Unidos naquele ano, apenas 10 conseguiram ser grandes sucessos de bilheteria, e carregaram nas costas o financiamento do restante das produções que foram sucessos médios e , na maior parte dos casos, fracassos de público e, portanto, econômicos. A mesma coisa acontece na indústria do disco e do livro, onde, no entanto, os custos fixos são menores.
Com isso, os produtores culturais médios, isto é, aqueles que não são grandes indústrias nem são o artista popular isolado, mas aqueles que procuram sobreviver de seu trabalho e para quem, a palavra “público” não evoca sinal da cruz nem colar de alho, que outra alternativa têm? Como trabalhar sem a cada momento reafirmar sua dependência do Estado?
Esses produtores geralmente têm que trabalhar alternanativamente com produtos (bens ou serviços) mais comerciais para poderem financiar e sustentar os trabalhos mais experimentais e “mais difíceis”. Isso não quer dizer que estejam dispostos a fazer qualquer coisa apenas para vender e se tornarem “comerciais”, mas que reconhecem que para ser sustentáveis é preciso recorrer a uma grande variedade de oferta para poder agradar os vários segmentos em que se fragmenta o público cultural. Mesmo quando alguns dos segmentos contemplados não sejam os seus preferidos, em termos de gosto pessoal.
Se se der ao trabalho de analisar a produção desses agentes culturais, através das listagens de projetos realizados, fornecidas pelo Minc e por outros órgãos governamentais, vai-se verificar que não há só resultados mercadológicos destituidos de qualquer qualidade. Muitas vezes, trabalhar com o sucesso de público não é trabalhar contra a qualidade. Antonio Fagundes, Paulo Betti e Fernanda Montenegro, quando são produtores de seus próprios espetáculos teatrais ou cinematográficos, estão aí para testemunhar que é possível fazer sucesso de público sem ter que oferecer produtos de má qualidade. Como diz Ernst Fischer: “A arte séria não perde necessariamente sua função crítica por integrar-se ao mercado, à realidade.”