Já não temos uma noção clara de como o Estado pode atuar de maneira consistente na area da cultura, suprindo o vácuo histórico em relação à sua responsabilidade constitucional de garantir direitos e liberdades culturais a todos os cidadãos: condição básica de cidadania em qualquer sociedade avançada. O campo de batalha em torno das políticas públicas de cultura tornou-se mera disputa por financiamento.
 A nova política cultural anunciada pelo governo Lula nasceu para ampliar o escopo de atuação da cultura. O artista, sobretudo o consagrado pelo mercado e pelas políticas liberais do passado, deixaria de ser o beneficiário principal dos incentivos do Estado. O desafio era descentralizar, estimular o protagonismo da população brasileira. Sem dinheiro, estrutura e capacidade de gestão para alcançar pretensiosa meta, o Estado atuou diretamente na construção de novos setores, organizados e legitimados para brigar pelo Erário, concentrado nas mãos dos tradicionais produtores de cultura do eixo Rio-São Paulo. Sem uma arquitetura de gestão pública alternativa, deixou de atuar em função e à favor do mercado para atuar como o mercado, com seus formatos consagrados e seus vícios: priorizar a visibilidade da operação em detrimento da prioridade; exigir contrapartidas além da atividade cultural, garantir o foco de atenção para a marca patrocinadora (nesse caso, o governo). Foi inaugurada a era do marketing cultural governamental.
A nova política cultural anunciada pelo governo Lula nasceu para ampliar o escopo de atuação da cultura. O artista, sobretudo o consagrado pelo mercado e pelas políticas liberais do passado, deixaria de ser o beneficiário principal dos incentivos do Estado. O desafio era descentralizar, estimular o protagonismo da população brasileira. Sem dinheiro, estrutura e capacidade de gestão para alcançar pretensiosa meta, o Estado atuou diretamente na construção de novos setores, organizados e legitimados para brigar pelo Erário, concentrado nas mãos dos tradicionais produtores de cultura do eixo Rio-São Paulo. Sem uma arquitetura de gestão pública alternativa, deixou de atuar em função e à favor do mercado para atuar como o mercado, com seus formatos consagrados e seus vícios: priorizar a visibilidade da operação em detrimento da prioridade; exigir contrapartidas além da atividade cultural, garantir o foco de atenção para a marca patrocinadora (nesse caso, o governo). Foi inaugurada a era do marketing cultural governamental.
Cultura popular, pontos de cultura, griôs, ciganos, cultura digital, GLBTs e um sem-número de “setores” antes alijados do financiamento tradicional à cultura entraram na arena, como reconhecimento a todas as formas de cultura, além das artes e letras. O frágil e fácil instrumento utilizado para celebrar as mais diversas colorações da nossa diversidade cultural foi o balcão de financiamento.
O edital tornou-se sinônimo de política cultural, conferindo um ar de celeridade, lisura, transparência e critério na divisão do bolo. Como tecnologia importada do setor privado, o edital foi criado para ativar marcas em torno da repercussão gerada pelo conjunto das ações culturais patrocinadas. O patrocinador ganha no atacado e no varejo: ele dá as cartas, coloca a comunidade cultural a seu serviço e ativa sua marca em vários momentos, da convocatória à entrega do produto, passando pelo anúncio dos resultados. Se é bom para o mercado, pode ser melhor ainda para o Estado.
O efeito simbólico dessa nova “política” foi extraordinário, ampliando a percepção da imensa riqueza cultural da periferia, dos grotões e do fora do eixo. Por outro lado, apresentou sua faceta neopopulista. Zonas conceituais cinzentas, regulamentos pouco consistentes e comissões julgadoras comprometidas com o poder possibilitaram o escoamento de verbas para interesses de grupos partidários, movimentos e igrejinhas organizados para abocanhar seu naco desse novo “mercado”, anabolizado pelo Estado.
O gestor público age como uma espécie de cool-hunter, que se apropria dos modos de vida, das falas e dos jeitos das comunidades para, em seguida, traduzir isso tudo em discurso oficial competente. Publicidade, road-shows, blogs, redes sociais e uma forte relação com a mídia garantem que números distorcidos e teses mal traçadas ganhem força, com o aval dos setores contemplados com o dinheiro público.
De caráter personalista, essas propostas não sobrevivem ao segundo mandato. Sem critérios e metodologias, são esculpidas para valorizar os poucos e bons por trás do balcão que distribui recursos. Esses, por sua vez, responsabilizam o Estado pelo caos do financiamento público à cultura. A democracia, o sistema político e a legislação vigente seriam incompatíveis com as inovações propostas. Qualquer semelhança com o mercado é mera coincidência.
Assim como o Estado neoliberal virou refém da Lei Rouanet, o neopopulista se coloca a reboque de um complexo e caótico modelo de participação, que inclui conferências, colegiados, conselhos, câmaras setoriais, fóruns, comissões, grupos de trabalho, consultas públicas e até mesmo redes. O simulacro da cidadania se faz no contraponto e na sobreposição dessas diferentes instâncias.
O capitalismo de Estado, na área da cultura, impede a geração de novos modelos de gestão, tanto no âmbito público quanto no privado, pois assume o comando de uma atividade que deve funcionar de maneira aberta, livre e democrática. Enquanto isso, a infraestrutura e a prestação de serviços culturais ao cidadão, função primordial do Estado, são deixados de lado. As infinitas oportunidades de estímulo à criatividade e à diversidade cultural proporcionadas pelas profundas mudanças ocorridas na economia brasileira e nos modos de produção cultural, poderão ser desperdiçadas.
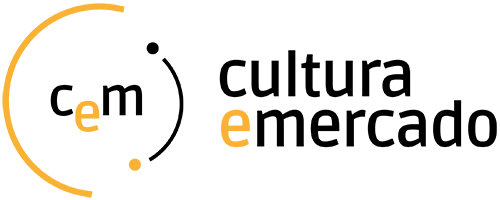
10Comentários