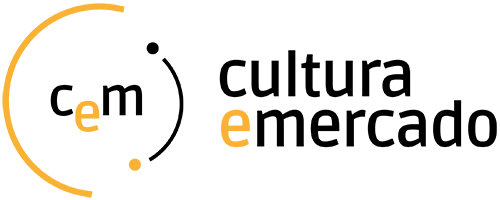“Desenvolver uma multindividualidade. Essa é uma forma de política pública que desafia a da identidade tradicional. Porque identidade é esse centro impotente, cheio de domínio de uma lógica econômica que se desenvolveu, em particular, no ocidente.” Acompanhe a entrevista com o antropólogo italiano, Massimo Canevacci
Massimo Canevacci é professor de Antropologia Cultural do Departamento de Ciências Sociais e da Comunicação da Universidade La Sapienza de Roma. Autor do livro “Culturas Extremas”, esteve no Brasil em meados do ano passado para promover seu lançamento. O livro traz uma forte análise sobre as culturas juvenis contemporâneas, resultantes das revoluções sócio-culturais impulsionadas pela tecnologia pós-industrial.
Esse é o ponto de partida para que Canevacci fale sobre sua visão de cultura, orientada sempre pela perspectiva do sujeito autônomo.
Leonardo Brant – Todos os movimentos que você aborda em seu livro estão muito distantes do Estado. São dinâmicas culturais que se encontram à revelia de uma cultura pública e institucionalizada. Você acredita que há alguma maneira de aproximar política pública dessas manifestações culturais?
Massimo Canevacci – Acredito que a maior ruptura que aconteceu na forma política dos movimentos da juventude, especialmente a partir do final dos anos 80, foi a idéia de que seria possível transformar a totalidade da sociedade. Toda aquela ideologia política que formou o movimento de 68 até 77 deixou de existir por muitos motivos, mas gostaria de sublinhar que a idéia de uma mudança radical da sociedade era uma idéia que não podia dar certo. Na verdade, o que estava acontecendo era algo muito mais complexo, pois aquele momento político, no sentido clássico, moderno, não poderia acontecer. No interior da dinâmica social, estrutural e econômica da época estava nascendo um tipo novo de modelo pós-industrial, que não tinha mais a relação entre classes sociais como centro da política, da dialética e dos conflitos. Era justamente essa dinâmica entre classes sociais que poderia promover a mudança estrutural de uma sociedade inteira. O que aconteceu naquele período foi uma mudança do que se costumava chamar “composição de classes”. Entende-se por composição, a composição do salário, do trabalho e do estilo compositivo no qual se dava a produção que caracterizou toda a era industrial. Tudo isso estava dissolvendo-se.
A coisa mais significativa que aconteceu foi a dissolução da figura do operário que, na perspectiva de libertar a si mesmo, libertaria toda a humanidade. Essa visão universal foi verificada por autores mais atentos que entenderam que as grandes formas narrativas, como o marxismo, a psicanálise e a religião não tinham mais a capacidade de produzir uma visão universal, que poderia determinar por inteiro a composição da política. Trata-se da crise da história, ou seja, constatou-se que a história como tal, havia acabado. Não havia mais possibilidade de algumas coisas serem mudadas, pois tudo já havia sido narrado. Mas essa é ainda uma perspectiva muito conservadora. Para mim, o mais interessante dessa perspectiva é que a morte da “A História” proporcionou um desligamento de uma variedade de histórias que não cabiam mais numa visão unificadora, como a da dialética, do marxismo, do idealismo etc. Isso significava que, por exemplo, a história de uma cultura pós-colonial não poderia coincidir com a história da cultura ocidental. Trata-se de uma pluralização da história. Entendeu-se que a forma da cultura, da história e da política estava morrendo. Na verdade, o que estava ocorrendo era a transição de uma forma singular e universal para uma forma mais pluralizada, descentrada e híbrida, na qual a concepção de constelação é muito mais significativa do que a concepção de universal. A forma de constelação, ou seja, o modo que favorece a consistência de estrelas, de formas estruturais, históricas, objetivas e diferentes, tem um constante movimento na articulação central.
Então, o que aconteceu no final dos anos 80 foi que esse tipo de movimento, tido como contra-cultural, era algo muito mais complexo e fluído, que não tinha mais essa vontade de mudar a estrutura inteira da sociedade. A crise da grande indústria manufatureira foi determinada pela emergência de um novo tipo prática, de subjetividade e de possibilidade de mudanças em outros níveis, totalmente diferentes. Tratava-se de uma nova forma de tecnologia. A concepção digital não é uma continuação da analógica. É necessário entender que se tratava de uma ruptura muito complexa, que se articulava em diferentes níveis e que não se podia mais ser analisada pela síntese.
Essa nova forma de metrópole, a metrópole comunicacional, favorece essa mudança. Tanto dentro da nova economia como nas dimensões fora do mercado. Portanto, o que estava mudando era essa idéia de que se podia mudar um universo inteiro, pois nesse tipo de composição teórica se encontra uma visão não só totalizante, mas também totalitária. Emergia então, uma visão muito mais espontânea, descentrada, múltipla e fluida, que produz sua forma de autonomia, que pode durar uma noite, ou um espaço de tempo determinado pela autonomia subjetiva e que naquele momento produzia sua forma de auto-libertação, ligada a um corpo e espaço determinado, temporário e finito.
LB – Me parece que esse processo todo que você está relatando anuncia o fim da propriedade sobre o conhecimento. Você acha isso possível?
MC – O princípio da propriedade sobre o conhecimento nasceu da revolução francesa. Ela determinou um conceito que hoje nós chamamos de copyright, mas não do direito de cópia, e sim o direito sobre a autoria. Eu posso vender o valor do meu trabalho a uma empresa e a empresa pode fazer o quiser com ele. O primeiro que fez isso foi Beethoven. Ele vendia sua obra a uma corte de aristocratas que vendia sua obra ao mercado. Isso significou uma grande revolução no campo da música e da autonomia de um artista. Foi por isso também que Beethoven foi um grande revolucionário. Na sua obra, ele decretou a morte da sonata pois entendeu que não era possível produzir uma síntese na forma-sonata.
Isso originou o que Adorno chamou de indústria cultural, nos anos 40. Na visão de Marx, a indústria cultural era algo inconcebível, pois a cultura não poderia ser industrial. Segundo a visão marxista, a cultura não poderia produzir valor, mas ideologia. Adorno entendeu claramente que os produtos intelectuais vindos da indústria da cultura produziam um valor muito forte que era muito parecido com o valor da produção de mercadoria.
A cultura digital é um tipo de cultura que, em sua imanência, favorece ao mesmo tempo a difusão sem limites dos produtos e a auto-produção do mesmo produto. É uma grande contradição, pois essa mesma tecnologia figurava em diferentes setores, às vezes nas mesmas multinacionais. Hoje, querem manter o copyright, mas ao mesmo tempo, a forma dessa tecnologia destrói a possibilidade de controlar o copyright. Então, nasceu nesse período, o movimento que se chamou copyleft. Trata-se de uma versão alegórica e política ao copyright (direita e esquerda) que se contrapunha ao domínio da direita para produzir algo muito mais sem controle e descentralizado da utilização da obra de arte.
Estamos vivendo esse momento em que ninguém sabe mais o que fazer. Todos sabem que o copyright não funciona, pois qualquer um pode reproduzir a música que quiser, variando apenas a parte simbólica. Mas as grandes majors são muito inteligentes, pois entenderam que distinção entre cinema de sala e cinema de dvd, da forma como era apresentada, não poderia mais acontecer. O que acontece agora é o lançamento quase que simultâneo de cinema de sala e cinema de dvd. Abre-se totalmente o mercado. Você pode comprar o filme e ver quando quiser, por um preço mais baixo, mas o mercado é sem limites.
A coisa mais crítica na economia de Marx era a idéia de que no momento em que a economia produz a sua mudança de auto-valorização, no corpo da auto-valorização se produz um bloqueio imanente da resolução dos conflitos. Essa forma de macroeconomia não pode mais produzir as novas tecnologias e ao mesmo tempo, produzir o controle do consumo do produto da cultura contemporânea. E hoje, quem é o sujeito mais inteligente sobre tudo isso? Aquele que tem 14, 15 anos. Já aos 13 anos esse sujeito já sabe utilizar essas tecnologias, de um jeito que não pode ser controlado. Esta é a imanência da contradição da forma da tecnologia. No ultimo período de Marx, onde ele já havia passado a entender que a perspectiva da tecnologia mudava a forma do processo de valorização que determinava o capital, ele produziu a possibilidade de distinção da massa construída da produção artística. E agora, com a cultura digital isso pode voltar a cruzar. Enfim, se você coloca a sua obra em um chart, eu tenho a possibilidade de interferir nela, na autoria, enfim, em tudo.
LB – Você acredita que essa dinâmica cultural, desses processos colaborativos e interativos de produção artística, do conhecimento e da cultura, vai suplantar a idéia da propriedade privada ou você acha que o mercado vai dar conta de regular as relações? Ou ainda, você acha que os organismos internacionais, como UNESCO, World Information Society, que é um organismo da ONU, têm a capacidade de alcançar a riqueza dessa dinâmica? Ou a própria cultura que ditará uma nova ordem?
MC – Por um lado, está surgindo uma forma totalmente autônoma de produzir saber. Por exemplo, na enciclopédia Wikipédia, você pode colocar a sua visão de arte para que qualquer pessoa possa conhecer. Portanto, um instrumento como a enciclopédia, que classicamente tinha essa visão universalista e objetivista está agora produzindo algo totalmente inovador, pois você nunca terá a definição única de arte e qualquer um poderá modificar. É uma enciclopédia sem fim e sem tempo. O engraçado é que esse fenômeno está muito conectado com a experiência da produção de softwares, que tem base binária, portanto, remetendo a sua pergunta, quem é autor do software? Está surgindo agora um novo tipo de produção de softwares que não é mais ligada ao pensamento binário, o Quantum Compunting. Se a base do software deixa de ser dualística, a forma da lógica torna-se totalmente diferenciada. Não creio que a forma da política contemporânea da cultura digital seja a contradição, mas sim a aporia. Porque a contradição faz parte do pensamento da dialética e prevê a superação. A aporia não prevê nenhuma superação. Ela tem a ver com o crossing, de atravessar, de misturar, de hibridizar. A aporia é um conceito líquido e a contradição é um conceito duro. A aporia serve a uma dimensão muito mais múltipla.
LB – Como fica a mídia, em termos de presença, de credibilidade, de possibilidade de democratizar não só o acesso, mas o fazer? A mídia é capaz de absorver essa mudança na estrutura da produção do conhecimento, ou outras instituições serão necessárias para tornar isso possível?
MC – Primeiramente, acho que a dimensão tecnológica da mídia tem que ser esclarecida. O que está acontecendo é que também a dimensão terminológica precisa evoluir, não pode ficar parada em um âmbito cultural que nasceu nos anos 40, 50. Mais uma vez, temos como referência Adorno, pois ele foi o primeiro a fazer a célebre pesquisa sobre a mass media, um conceito que produz a relação entre mídia e massa. Mas isso significa que o consumidor é analisado com uma tipologia que entra no conceito de massa. Esse conceito de massa, hoje não funciona. A cultura digital está desenvolvendo uma perspectiva em que esse conceito de massa, que era central, desaparece.
A cultura digital é uma cultura interconectiva . Não é uma cultura coletiva. O conceito de inteligência coletiva, elaborado por Lévi está ligado a uma visão tradicionalista, ultraconservadora, que não funciona mais. Portanto, o conceito de coletivo não pode ser aplicado à cultura digital, pois ela é formada pelo conceito da conectividade, ou seja, uma única pessoa pode conectar-se, com sua autonomia mais ou menos definida, como quiser, quando quiser, desenvolvendo uma forma de identidade que não é mais uma forma de identidade ligada ao trabalho, a um sexo, a uma idade, a uma etnia etc. Mas uma pessoa pode experimentar uma multiplicidade de identidades. Então, essa experiência de um sujeito que se define, por exemplo, como shemale em uma rede virtual, não significa que ele está jogando. Significa que em uma parte da sua identidade, apesar de ainda ter sua vida tradicional, ele pode ser por um momento um shemale, ou seja, um macho que tem na sua composição erótica o feminino, mas que não significa ser homossexual. Significa destruir outro conceito ultrapassado, o conceito de homossexual, produzindo uma nova forma de percepção da identidade, uma forma múltipla. A mudança que se pode verificar nessa nova forma de subjetividade, para mim, tem uma nova possibilidade, mas que não é única: Desenvolver uma multividualidade. Essa é uma forma de política pública que desafia a da identidade tradicional. Porque identidade é esse centro impotente, cheio de domínio de uma lógica econômica que se desenvolveu, em particular, no ocidente.
O termo “a mídia”, não no sentido brasileiro, em inglês, é mais claro. Pois media, é uma palavra que indica plural. É uma palavra de origem latina, medium e se você diz mídia, subentendem-se uma pluralidade de elementos, rádio, televisão, máquinas fotográficas.
LB – Como que o Brasil pode contribuir para esse novo paradigma de mundo que você está visualizando?
MC – O Brasil está muito mais na frente de muitas experiências da cultura européia e também norte-americana. É um dos poucos lugares que tem a possibilidade de resolver os conflitos da contemporaneidade, por causa de sua hibridização. Se as culturas são mais híbridas o conceito de etnicidade deixa de funcionar, pois você não pode definir com tipologia o sistema étnico da composição brasileira. É impossível, objetivamente. Isso é muito interessante, pois cada pessoa passa a ter a sua identidade étnica. Diferentemente de outros países que também sofreram grandes processos de imigração, no Brasil surgiu uma capacidade inigualável de miscigenação. Nos Estados Unidos, uma mulata é negra. No Brasil, uma mulata é branca. É incrível essa diferença fundamental na percepção das coisas.
Outro ponto é que o Brasil está desenvolvendo uma política internacional que pode redefinir o cenário da globalização. Pois o cenário da globalização tem como elemento estratégico o controle da produção agrícola. Ai está o “buraco do diabo”. Pois o que está acontecendo nos paises da Europa e Estados Unidos proteção da produção agrícola pelo Estado. E esses paises afirmam que são liberalistas. O problema é que eles são liberalistas sobre tudo, mas não sobre a produção agrícola. Então, a estratégia política do Brasil está tocando nesse ponto, lutando pela destruição desse tipo de protecionismo que a França e Estados Unidos têm sobre a própria agricultura. Dessa maneira, o produto agrícola das novas potências do mercado mundial, Brasil, China, Índia e África do Sul, poderão jogar em competição real com o mercado mundial. E não é só isso. Dessa forma, as “impotências” pós-coloniais como Nigéria, Argélia, Senegal, enfim, paises que tem potencial de exportar produtos agrícolas, mas não tem possibilidade, porque a Europa, Estados Unidos, Japão oferecem barreiras agrícolas, poderiam emergir também. Tudo isso é controlado pelo Banco Mundial que é controlado por algumas potências econômicas. E o Brasil está tentando interferir na forma de controle do Banco Mundial atacando esse modo quase que velado de protecionismo da agricultura.
Portanto, não é só o petróleo o centro da economia mundial, mas é também a agricultura. Por exemplo, o Mato Grosso, exporta soja não-refinada, bruta, porque não tem estrutura para desenvolver uma força industrial no campo. A exportação maior é na direção da China, Índia e Japão. Isso significa que a China pode exportar para o Brasil novos computadores que eles estão fazendo, e que não são mais ligados a Microsoft, mas sim à pirataria chinesa que não obedece essa forma de copyright. Então, você poderia imaginar uma nova geração de computadores produzidos na China, custando 200, 300 dólares e que poderiam ser trocados por soja com o Brasil? O controle da agricultura é o controle do futuro. O Brasil está em primeiro lugar em relação a agricultura, em muitos produtos. A Petrobrás é terceira potência do mercado latino americano. O que falta ao Brasil é uma elaboração estratégica da cultura digital, da produção digital, de softwares. Muitos pesquisadores brasileiros são obrigados a trabalhar nos Estados Unidos, na Europa porque ainda não tem estruturas fortes de investimento em tecnologia. Se o Brasil investir nisso, superará muitas potências européias.
Leonardo Brant