O secretário de articulação institucional do MinC, Márcio Meira, num dedo-de-prosa com sabor de aula de história. Em pauta a política cultural brasileira, de D.João à ditadura
Cultura e Mercado traz esta semana a primeira parte da entrevista de Márcio Meira, secretário de Articulação Institucional do MinC, responsável pela implementação do Sistema Nacional de Cultura, que já conta com mais de 2 mil municípios e 21 estados conveniados. A conversa foi pautada por um minucioso retrospecto histórico das políticas culturais brasileiras, desde o império até a ditadura militar. Meira é historiador e antropólogo, foi diretor do arquivo histórico do Pará e presidente da Fundação Cultural de Belém.
Século 19 e o conceito de cultura
Leonardo Brant – Em que fase nós estamos da política cultural, para onde estamos indo e o que mudou recentemente? Faça um balanço.
Márcio Meira – Essa é uma pergunta complexa. Precisaríamos de uma tarde toda para falar disso, portanto tentarei resumir um pouco. Sou historiador e tenho uma tendência muito forte de sempre pensar as coisas em longo prazo. O pensamento de política cultural é diferente do pensamento de cultura. As duas coisas não podem estar dissociadas, mas política cultural é uma coisa e a cultura brasileira é outra coisa.
Temos um país que se constituiu a quinhentos e poucos anos, fruto de um processo de miscigenação e de colonização que engendrou uma sociedade complexa, mestiça, plural, violenta, autoritária e que de quinhentos anos, viveu 400 em regime de escravidão. Portanto, uma sociedade que tem uma cultura extremamente complexa, nesse sentido amplo e antropológico da cultura – o que também é um outro amplo debate, pois não existe um único conceito antropológico de cultura. Quando falamos em conceito antropológico de cultura, parece que só existe um, mas na verdade a própria antropologia, como ciência surgiu apenas no século 19, com uma consciência de cultura totalmente diferente do conceito de hoje. Portanto quando a gente fala em consciência antropológica é no sentido amplo, marcado pela definição da antropologia mais contemporânea e política, dos anos 30, 40 para cá. Sobretudo depois do impacto da segunda guerra mundial. É então, essa visão de cultura, como um complexo de instituições e fenômenos, de modos de ver e viver, de sonhar, as diferenciações técnicas, as relações simbólicas, enfim, nessa definição, a cultura se coloca como o grande marco diferenciador do humano.
A antropologia trabalhou ao longo das últimas décadas estabelecendo a diferenciação entre cultura e natureza como marca humana. Ou seja, determinou o domínio da linguagem como elemento diferenciador do humano em relação à natureza e aos animais. É dentro desse conceito que vai muito além de um simples resumo que a cultura brasileira se insere, ou seja, de uma sociedade complexa plural e carregada de muita história de violência, de uma cultura política autoritária. Por outro lado, em função da nossa mestiçagem, as relações humanas no Brasil se dão de uma forma muito inclusiva. É uma sociedade excludente, ao mesmo tempo em que a cultura é includente. A sociabilidade brasileira, isso que costumamos chamar de “jeitinho brasileiro” é uma forma de sociabilidade mais fluída, paradoxalmente, mesmo carregada pelos preconceitos e autoritarismos. Isso é uma coisa. Outra coisa é como que o Estado no Brasil se organizou para tratar dessa questão da cultura, ou seja, a visão de cultura como algo que precisa ser tratado.
Esse é um fenômeno muito recente. Dos quinhentos anos do Brasil, esse é um fenômeno que passou a acontecer no século 20. No século 19, o Brasil viveu um embrião disso, mas com essa visão institucional mais complexa, do papel do Estado na cultura, apenas no séc. 20. Porém, no século 19 houve momentos importantes e isso não pode ser esquecido. Por exemplo, no século 19, a chegada da corte com Dom João VI provocou mudanças muito significativas no Estado brasileiro. A partir daí, o Brasil passou a ser sede do império colonial português, durante nove anos e isso teve uma conseqüência brutal na organização do Estado no Brasil. Teve como conseqüência a própria “independência do Brasil”. Mas na verdade o Brasil continua dependente do ponto vista econômico e até mesmo dependente do ponto de vista simbólico e ideológico da Europa, principalmente da Inglaterra.
Então, o Brasil havia se tornado um país muito mais complexo em função do fenômeno que ocorreu naquele século, de uma corte européia ter saído da Europa e ter vindo para o Brasil, um país situado ao sul do equador. Era um fenômeno único, um fato que só havia acontecido com o Brasil. E isso teve conseqüências em relação à organização do Estado. Portanto, não podemos esquecer que no século 19, o Brasil constituiu algumas instâncias e instituições públicas relativas ao que hoje chamamos de política cultural. Na época não era chamado assim, pois a própria compreensão de cultura era outra. A perspectiva de cultura daquela época era a de que o Brasil tinha que ser “civilizado”.
O século 19 foi o período da revolução industrial, das grandes transformações na economia global e a entrada do Brasil nesse mundo foi muito marcado pela visão que as ciências sociais desenvolviam naquela época. Ou seja, o positivismo, o evolucionismo e aquela idéia de que cultura é sinônimo de civilização, sobretudo a concepção francesa de civilização – diferentemente da visão alemã. E se cultura é civilização, dentro desse aparato civilizacional, a concepção ideológica européia era de que a civilização mais refinada era ela mesma. A partir desse pressuposto, dava para se estabelecer uma espécie de escala da evolução civilizacional em que o topo era ocupado justamente pela sociedade européia. Então, o Brasil e todos os paises dos mundos, povos do mais variados eram colocados dentro dessa escala. Era essa concepção Darwinista – embora Darwin não falasse de nada disso. Foram as ciências sociais da época que se apropriaram da visão evolucionista para aplicar dentro do campo social.
Então, veio o positivismo e o tal “darwinismo social” que imperou, sobretudo na segunda metade do século 19. As elites brasileiras e da América latina como um todo, foram influenciadas por essa concepção. É aí que a gente encontra uma coisa muito forte no Brasil do século 19: a visão de que nós precisamos civilizar os índios, os negros, os pobres, enfim, toda a população brasileira que se constituía ao longo da história, através da mestiçagem e toda a complexidade que mencionei anteriormente. Do ponto de vista dessa escala evolucionista, o Brasil se encontrava entre a barbárie e etapas muito primitivas – usando palavras daquela época. Portanto, a maior parte da população brasileira era tida como uma população primitiva, bruta. E o pouco que havia de uma sociedade civilizada no Brasil, estava localizado nas grandes cidades que se constituíam pouco a pouco, como o Rio de Janeiro. A própria cidade do Rio de Janeiro sofreu uma intervenção urbanística a partir do período de Dom João VI, para torná-la civilizada – como se dizia na época.
Foram criadas instituições que marcam uma civilização, como por exemplo, bibliotecas, escolas de belas artes, museus, arquivos, ou seja, instituições do Estado que denotam essa percepção de civilização e têm um papel importante na formação e educação dos “incautos”, dos “abrutalhados”, dos “primitivos”. O processo educacional adquire uma função muito importante.
A educação pública no Brasil surgiu no século 19, a partir da concepção evolucionista e positivista, ou seja, cabia à escola no Brasil transformar os “brutos” e “primitivos” em cidadãos civilizados. Daí vem a visão de que os povos indígenas e os negros deveriam ser integrados a civilização brasileira, nesse sentido evolucionista. Então, dentro desse conceito do século 19, surgiram instituições públicas, organizadas pelo Estado e que tinham um papel educacional, ou seja, de civilizar o povo brasileiro, de informar o povo brasileiro, dentro desse padrão europeu. Dá para citar várias instituições criadas para isso, como por exemplo, a Biblioteca Real que veio para o Brasil e se tornou a Biblioteca Nacional, a nossa Biblioteca Nacional, existente há mais de 200 anos. Esta instituição foi constituída no Império, portanto no século 19. Por isso, não dá para dizer que toda a política cultural do Brasil, toda a forma como o Estado se organizou no Brasil para constituir uma política cultural, aconteceu só depois de 22, depois dos modernistas. Os modernistas têm um papel fundamental, mas há também, antes dos modernistas, uma história que precisa ser contada e reforçada.
Existem também no século 20 outros grupos intelectuais e sociais, em outros lugares do Brasil, que também constituíram políticas culturais diferenciadas, movimentos culturais diferenciados dos modernistas. Às vezes até próximos, mas sem se conhecerem, sem haver uma relação direta. Então, eu acredito que o século 19 seja muito importante e essa recuperação historiográfica da política cultural no século 19 precisa ser feita ainda. Até já começou a ser feita. Por exemplo, os trabalhos feitos sobre a Biblioteca Nacional, publicados recentemente, e a história da Biblioteca Real, já denotam esse tipo de preocupação.
Patrimônio histórico
Leonardo Brant – Mas o que você acha que fica de “componente genético” desse período nos dias de hoje?
Márcio Meira – Creio que o mais importante que fica são as instituições criadas no século 19 e os respectivos acervos, ou seja, a dimensão da memória e do patrimônio que hoje a gente trata em política cultural. Fica essa dimensão conservadora, no sentido de conservar. E não foram poucas instituições que permaneceram. Há ainda instituições que foram criadas nas províncias, como o Museu Paranaense, o Museu Paulista, o Museu Emílio Goeldi, os institutos histórico-geográficos, que embora não sejam instituições do Estado, no século 19 eram praticamente “apêndices” do Estado e financiados totalmente por ele.
Vem daquela época também, um sistema de mecenato instituído pelo imperador Dom Pedro II. Podemos dizer que naquela época do Império, o imperador Dom Pedro II era o Ministério da Cultura. Por exemplo, foi ele quem financiou Carlos Gomes para que ele pudesse ir para a Europa e se tornar o que se tornou. Se não fosse o mecenato do imperador nas províncias onde essas instituições foram criadas e a rede que se constituiu de institutos histórico-geográficos no século 19, muita coisa não teria acontecido. Hoje, essas instituições estão esquecidas e abandonadas, mas se você for ao Museu Paulista que é o mais importante no meio de arqueologia e etnologia da USP, ou ao Museu Paranaense, ao Museu Goeldi, ou ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, enfim a todas essas instituições criadas no século 19, se você for a essas instituições, verá que são elas que guardaram parte dos tesouros que dizem respeito à memória e ao patrimônio brasileiro, desde o período da colonização. Vários arquivos públicos foram criados no século 19, nas províncias, como o arquivo público da Bahia, o arquivo público de Pernambuco, o do Pará, de São Paulo e Minas Gerais.
LB – Há três elementos mencionados por você que me parecem “carga genética” desse período e são muito presente hoje, mas pouco debatidos. O primeiro é o fato de que esses instrumentos e equipamentos culturais são uma maneira de dar institucionalidade, ou seja, existe uma centralidade da questão da cultura como aquilo que dá forma e não só forma, mas conceito a uma sociedade. Vejo também o lado negativo dessa “carga genética” que de certa forma, nós perdemos. Esses elementos não determinam mais a cultura. Outra coisa que eu vejo como “carga genética” negativa, ou seja, aquilo que a gente não absorveu, é essa questão de que o referencial estético e ético europeu ainda reina. De certa forma, esse paradigma ainda é vigente, percorreu todo esse processo e as universidades acabaram se formando também sob esse paradigma. Esse é um desafio que a gente ainda precisa superar. O terceiro aspecto é a educação das elites. A estratégia “já que não temos capacidade de educar o povo, vamos formar as elites para serem responsáveis pela formação do povo”.
MM – Sim, hoje a elite ainda carrega essa concepção civilizacional. Concordo com esses três elementos que você apresentou e acho muito interessante o como no Brasil, nós temos a tendência a jogar fora o bebê junto com água suja do banho. Essa é a imagem clássica que se usou nos últimos tempos para se falar disso. Ou seja, tudo aquilo que foi feito pelo império foi jogado fora como se fosse algo que não valia mais. Tanto é que o discurso do modernismo é um discurso de esquecimento do Império. Muito interessante reparar o como os modernistas tratavam a figura do Joaquim Nabuco.
Nabuco era uma pessoa destratada pelos modernistas, quando na verdade, ele cumpriu um papel importante no campo da cultura. Se o Joaquim Nabuco não tivesse feito o trabalho que fez de resgate, palavra que não me agrada muito, mas é adequada porque se trata realmente de um resgate da documentação sobre a história do Brasil, na Europa, e se ele não tivesse feito esse trabalho, talvez muito do que a gente tem de acesso aos documentos sobre a história do Brasil do período colonial, não existiria. Há de se considerar todo o trabalho que Joaquim Nabuco fez nos arquivos portugueses, espanhóis e franceses. Ninguém lembra da obra monumental de compilação documental que ele elaborou, na época que já exercia função de diplomata, e que foi fundamental.
Havia um aspecto político naquela época, que era a questão das fronteiras no Brasil e o estabelecimento do território brasileiro. Foi um trabalho monumental feito no século 19 e aí entra uma outra figura, o Barão do Rio Branco, que também foi esquecido pelos modernistas. Ou seja, é como se nada tivesse acontecido no Brasil do ponto de vista da organização do Estado e que tem abatimento na cultura. O papel que o Barão do Rio Branco exerceu na constituição da identidade nacional é esquecido. É dever do historiador não julgar um evento ou personagem de um século, com os valores do século atual. Deve-se sempre considerar o contexto da época. E no contexto daquela época, figuras como o Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco ou José Bonifácio realizaram obras importantes.
Muita gente se esquece que a figura de Dom Pedro II teve um papel quase como o de uma entidade de unidade nacional no império e também foi mecenas da cultura. Há outros detalhes importantes, como por exemplo, o Museu Nacional que teve que ser criado com a vinda de Dom João VI e depois Dom Pedro II o reforçou. Existem acervos etnográficos e históricos nesse museu que estão lá, única e exclusivamente porque Dom Pedro II se movimentou para que eles estivessem lá.
Outro exemplo são os acervos egípcios. A maioria da elite brasileira de hoje não sabe que existe no Museu Nacional no Rio de Janeiro, ou seja, no Brasil, um acervo de arte egípcia gigantesco – para um museu localizado ao sul do equador. Ora, se você considerar instituições museológicas situadas ao sul do equador, apenas o governo nacional do Brasil tem acervo egípcio. Talvez na Argentina tenha alguma coisa, ou algum outro país do hemisfério sul, mas se tiver, no máximo são dois ou três que possuem um acervo egípcio ou etrusco, de Pompéia.
Então, de acordo com a característica daquela época, se você quiser formar uma elite a partir dos princípios da evolução da civilização européia, você tem que ter objetos e documentos referenciais das origens daquela civilização, inclusive as origens orientais, como Egito, Mesopotâmia. Como no momento em que foram criados o Museu do Louvre e o Museu Britânico na Europa. Foram criados para cumprirem exatamente esse sentido de dizer “olha, nós somos o ápice da civilização e os museus foram criados para mostrar a evolução dessa civilização”. Esse é modelo europeu. O governo nacional, no Rio de Janeiro, compartilhava do mesmo princípio e Dom Pedro II desempenhou esse papel. Agora, eu quero chegar ao seguinte: quem foi que formou Dom Pedro II? Dom Pedro II nasceu no Brasil, foi formado aqui, não em Portugal. Quem foi a pessoa que o educou nessa visão iluminista? Foi José Bonifácio, que se formou na Revolução Francesa. Bonifácio chegou ao Brasil com idéias muito avançadas para época e por isso perdeu na disputa hegemônica do poder, mas por outro lado, foi dado a ele, talvez como “prêmio de consolação” o papel de ser preceptor do filho de Dom Pedro I, o herdeiro do trono.
Portanto, se queremos pensar na constituição de uma política pública de cultura no Brasil, da forma como o Estado se relaciona com a cultura, não poderíamos esquecer figuras que foram contraindo essa política, mesmo que a gente considere que no contexto daquela época havia uma perspectiva, como você mesmo colocou, de formação de uma elite. Uma elite mestiça, inclusive os barões. Quantos barões não foram assinalados no Brasil do século 19? Eles eram na verdade, figuras das oligarquias agrárias, das províncias e foram tornados barões, estudando na corte e recebendo esse tipo de formação para que eles pudessem criar essa concepção. Costumo brincar, dizendo que nós precisaríamos de um programa nacional de alfabetização das elites, no Brasil. Precisamos conhecer mais sobre a história e a formação do Brasil. E isso tem a ver com a constituição dessa cultura oligárquica e antidemocrática que se consolidou lá no século 19. Esse é lodo negativo da política do século 19 que nós herdamos hoje.
Positivismo e modernismo no século 20: semelhanças e contrastes
Leonardo Brant – Vamos pular para o século 20? Gostaria que você fizesse uma análise, um pouco menos profunda, mas tentando resgatar esses elementos como os que acabamos de elencar do século 19, mas agora, em relação ao século 20, a semana de 22, a Era Vargas. Enfim, quais são esses elementos que a gente vem compilando, acervando e hoje são paradigmáticos? Quais desses elementos a atual gestão está tentando reforçar e quais tenta quebrar?
Márcio Meira – Começamos o século 20 por essa virada que é marcada pela República e com ela, essa ideologia positivista se consolida no Brasil. Creio que uma boa parte da primeira metade do século 20 ainda é tomada pelo pensamento positiva, portanto, continuamos no século 19 até aproximadamente 1950. Esse pensamento marca profundamente a concepção da política cultural, mesmo com a erupção do modernismo em São Paulo, Rio e em outros lugares do Brasil. Em cada capital brasileira da época, que tinha mais dinheiro – esse é um detalhe importante – começou a acontecer um movimento de questionamento dessas concepções positivistas, de formas variadas. O que acontecia em São Paulo era diferente, por exemplo. Em São Paulo houve um movimento da burguesia do café, que se industrializava, ou seja, uma transição do capital cafeeiro para o capital industrial com uma forte presença da imigração européia. Naquele momento, a elite paulistana, sobretudo da cidade de São Paulo, formulava uma concepção diferente da concepção anterior, a concepção oligárquica, embora, ainda mantenha relações muito próximas com a oligarquia do café. Tratava-se de uma transformação da própria oligarquia com uma visão muito própria.
Agora, acontece também outra visão no Brasil, na capital federal, no Rio Grande do Sul, no nordeste, no norte, mais especificamente em Belém, no período dos anos 20 e 30, movimentos de intelectuais e grupos que também colocaram temas novos, diferentes da forma que vinha sendo colocado pela ideologia positivista. Mas foram sempre muito isolados e na primeira metade do século 20 ainda não cumpriam um papel hegemônico na construção das políticas publicas. Na verdade até hoje não se consolidou por inteiro. Muito dessa ideologia do modernismo brasileiro ainda está presente aqui no Ministério da Cultura de hoje, da gestão Gil. O importante é que nos anos 40, 50, havia uma transição em que convivia no Brasil, ainda fortemente, aquela ideologia do século 19, positivista e daí, aquelas instituições que herdamos do século 19, continuaram.
Foram criadas também novas instituições, como o Museu Histórico Nacional, criado em 22 em função do centenário da independência. Gustavo Barroso foi diretor do Museu Histórico Nacional e se guiou pelo integralismo. Ele tinha uma visão carregada pela ideologia positivista.
Na mesma época do 22, em São Paulo nasce o Museu Histórico Nacional. Hoje, há uma tendência na historiografia de depositar um valor para o que os modernistas de 22 fizeram muito acima do que eles realmente fizeram, na minha opinião. Na verdade, nós tínhamos muito mais coisas acontecendo no Brasil, muito mais fortes, tanto do ponto de vista econômico quanto político que no modernismo. É claro que para uma certa perspectiva de hoje, é importante se reforçar a Semana de 22. Mas no nordeste aconteciam movimentos importantes na mesma época. No Pará ocorreu um grande movimento de inovação nas artes visuais, na poesia e na música, nos anos 30. Nessa época, a questão do folclore entrou na agenda política brasileira a partir do trabalho feito por José Benício e Silvio Romero, que apesar de partirem de uma visão ainda positivista, contribuíram para a construção de um movimento nacional de realçar os mitos e valores originais da cultura brasileira. Portanto, esse movimento folclórico não tem nada a ver com a Semana de 22, do ponto de vista ideológico, e foi um movimento muita mais forte. Inclusive pela abrangência nacional. Era um movimento paralelo a aquela visão de inovação estética que acontecia na Semana de 22 e em algumas outras regiões como Pernambuco, Bahia e Pará. Tanto é que, Mario de Andrade, quando resolveu sair de São Paulo e fazer aquelas viagens pelo Brasil inteiro, foi para descobrir um Brasil que ele não conhecia. E foi com essa idéia de descobrir o Brasil profundo, o Brasil primitivo, revelando uma pessoa ainda muito embebida na fonte positivista.
Aliás, ele dizia numa daquelas cartas maravilhosas que trocava com Fernando Sabino – que era um jovem revolucionário de 19 anos e Mário de Andrade já um homem de 40 anos – “Não se esqueça que você sempre será fruto do seu tempo”, ou seja, ele sempre carregará uma bagagem independente de sua vontade. Mário também tinha isso em sua juventude quando foi se aventurar na Amazônia, e fez aquele célebre relato da viagem ao Brasil, em 1927.
Concluindo, acho que a primeira metade do século 20 foi marcada por essa convivência de uma perspectiva de ruptura do positivismo – com reflexos na política pública e no papel que o Estado desempenhava perante a cultura – com a permanência dessa mesma ideologia. O momento em essa concepção positivista que permeia majoritariamente a elite brasileira, começa a mudar somente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial.
LB – Você não acha que o modernismo e toda sua proposta de inovação estética era interdependente desse movimento de descoberta do Brasil profundo, das raízes e do barroco, por exemplo?
MM – Acredito que haja um diálogo e dos modernistas em São Paulo, Mário de Andrade foi quem mais desenvolveu esse diálogo. Mas as matrizes conceituais são diferentes apesar de estarem convivendo. Acho que existe uma coisa em comum entre essas duas ideologias. Ambas continuavam ainda com a referência externa da Europa. As rupturas estéticas que o modernismo trazia, mesmo considerando que tinha que valorizar o Brasil profundo, eram relacionadas às rupturas que estavam acontecendo na Europa. Na verdade, foram as transformações que estavam acontecendo na Europa, na virada do século 20, sobretudo nas artes visuais que influenciaram o modernismo brasileiro. Portanto, embora o modernismo se voltasse para a questão da originalidade e brasilidade – e aí entra a antropofagia do Oswald de Andrade e a leitura do Mário Andrade da cultura brasileira – bebe na mesma fonte positivista e evolucionista, assim como os movimentos folcloristas e regionalistas. Nesse sentido ainda havia a influência da reflexão de fora.
LB – O importante para nós hoje, é que podemos observar o quanto esses dois elementos interdependentes ou não ainda são muito presentes.
MM – Exatamente. Temos que lembrar também que foi nesse período quando o Brasil começou a mudar seu perfil demográfico. Ou seja, o Brasil até 1950 era um país agrário. A partir de 1950, passa ser um país urbano. E isso ocasiona um deslocamento importante não só na formação da população, mas também nas elites. As elites agrárias perdem paulatinamente seu peso em detrimento de elites urbanas. De certa forma, esses dois lados se refletem na ambivalência que havia nas elites. O lado agrário era mais conservador, no sentido de oligárquico, que remonta ao período colonial. E as novas elites urbanas, que surgem de uma classe trabalhadora e incipiente em São Paulo, Rio de Janeiro e nas cidades mais urbanizadas. Um Brasil rural, mas que se urbanizava. Um Brasil agrário, mas que se industrializava.
Ao contrário do que muitos pensam, a indústria no Brasil já começa a partir do anos 10, 20. Uma indústria ainda muito artesanal e caseira, mas que começa antes dos 30, antes da Era Vargas. O importante é que a gente viveu naquele momento esse encontro e que hoje nós herdamos. Pensando no Brasil hoje, século 21 e olhando para trás, nós não podemos prescindir nem do século 19, nem do século 20. Não podemos abrir mão do que herdamos dessas elites e da cultura que se estabeleceu naquele período. Nem das velhas instituições, museus, acervos e tesouros que devemos as elites brasileiras do Império. Nem das reflexões, ponderações dos apontamentos que devemos aos modernistas e aos movimentos folcloristas. Tratar da política cultural no Brasil daqui para frente, implica necessariamente, considerarmos esse legado – Que tem os problemas genéticos que ele carrega, mas tem também suas virtudes.
Entrando nos anos 30, a Era Vargas tem papel fundamental durante a guerra e no pós-guerra. É nela em que o Estado moderno brasileiro se constitui de fato.
Mário de Andrade, primeiro dirigente público de cultura no Brasil
Leonardo Brant – Sim e tem um projeto claro de política por trás. E quais são seus traços mais marcantes?
Márcio Meira – Há dois pontos que gostaria de ressaltar, que acontecem no final dos anos 30, mas já apontando para segunda metade do século 20. Tudo o que constituiu esse período da segunda metade do século 20, incluindo os militares a constituição da redemocratização e a criação do ministério da cultura, todos esses eventos herdam dois elementos que considero importantes no período do final dos anos 30 e início da Era Vargas. Um é a criação da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em 1935. O prefeito na época, Paulo Prado, se não me engano, ficou no poder um período curto. Ele era a expressão daquela burguesia paulista industrial que se constituía e colocou Mário de Andrade como Secretário de Cultura de São Paulo. Em 35, após de ter construído aquela compreensão de Brasil, a partir das viagens que fez, de tudo aquilo que ele acumulou do modernismo, Mário de Andrade havia se tornado o primeiro dirigente público de cultura no Brasil no sentido moderno do termo.
Esse é um momento de ruptura do ponto de vista institucional. Ali se constituiu pela primeira vez um órgão feito pelo Estado especificamente para cuidar aquilo que a gente chama de cultura, do ponto de vista do direito do cidadão. Não era mais uma política cultural voltada para as elites, para aquele corpo dirigente nacional agrário oligárquico. Ali era uma visão de que a cultura era um direito. Se é um direito, é de todo cidadão. Se é de todo cidadão, então precisa de uma política pública. Esse momento de ruptura institucional durou pouco tempo, pois quando caiu o prefeito refluiu tudo aquilo. Tanto é, que uma porção de iniciativas que o Mário de Andrade desenvolveu naquele curto período ainda hoje são marcas. Portanto, isso é gestão pública de cultura no Brasil.
A noção de sistema na gestão cultural, por exemplo, foi Mário de Andrade que introduziu, naquele curto período. Ele criou bibliotecas públicas e discotecas públicas. Curioso não é mesmo? Ele criou discotecas públicas com o argumento de que como a cultura brasileira é uma cultura que tem na oralidade uma importância fundamental, além de ter biblioteca você precisaria ter discoteca, pois o disco permitiria as pessoas ouvirem a música gravada dos brasileiros em geral. E ele tinha critério, tinha que ter discos de todas as matrizes. Enfim, essa noção de sistema é um legado contemporâneo. Hoje nós estamos ainda estamos debatendo pelo amadurecimento da noção de sistema.
Mário de Andrade também desenvolveu a noção de que política cultural tem que ter esse duplo aspecto: da memória e das artes. Da conservação e da inovação. Até hoje nós trabalhamos dessa forma que foi instituída em 35 por ele. A noção também, de que nós temos que ter uma visão do nacional. Claro, até porque isso reflete a intenção da elite paulistana de se hegemonizar como elite nacional – movimento que começou naquela época e continua, pro mau e pro bem.
Outro ponto é a idéia de que Secretária Municipal de Cultura de São Paulo tinha que fazer expedições etnográficas para os sertões do Brasil. A Secretária de Mário de Andrade financiou, por exemplo, as expedições do Levi Strauss pelo Brasil central. Nós não teríamos Tristes Trópicos, clássico de Levi Strauss, se ele não tivesse sido financiado por uma política pública. A base da pesquisa desse livro foi financiada pela prefeitura de São Paulo, pela Secretária Municipal de Cultura de São Paulo. E não foi para fazer uma pesquisa em São Paulo. Strauss foi até o Mato Grosso. Aqui nós estamos trabalhando a nação brasileira e o Estado nacional. Não era um projeto local de uma elite, nesse sentido, moderna. Uma elite que não via mais a questão oligárquica local, enfim, essas questões pequenas.
Era Vargas e o nacionalismo
Leonardo Brant – Esse paradigma do nacionalismo é a grande jogada?
Márcio Meira – Sim, Mário de Andrade antecipou o que a Era Vargas consolidou. Ele concebeu praticou essa política em 1935 e 1936. E depois essa concepção e prática foram traduzidas em 37, quando Vargas cria o Ministério da Educação e da Saúde. Gustavo Capanema assumiu esse ministério, compondo sua equipe com Mário de Andrade servindo de consultor intelectual e criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Criou também outros serviços como o Radiodifusão Educativa. As pessoas lembram mais do IPHAN, pois foi a única instituição que permaneceu até hoje e é uma instituição muito forte do ponto de vista institucional, já que ela também constrói sua história.
Esquece-se que em 37, outras instituições foram criadas e, por exemplo, Humberto Mauro fez filmes sobre a história do Brasil financiados pelo Ministério da Educação e Saúde, nesse sentido do nacional. Então, creio que o legado nesse caso do Mário de Andrade e da Era Vargas, foi a noção de cultura como direito do cidadão, portanto a noção de que deve haver a responsabilidade do Estado de promover política cultural. E também as noções de sistema e nacional.
Essas noções surgiram com o Mário de Andrade e se consolidaram na Era Vargas. Tanto que a Era Vargas, foi época marcada pelo autoritarismo e centralismo. Há quem diga até fascismo. Eu não diria tanto. Não acredito que se encaixaria na noção européia de fascismo o período Vargas. Mas era sim um regime autoritário, centralizador e que tinha como marca muito forte o nacionalismo. Acredito que a Era Vargas consolidou essas concepções de Mário de Andrade, mas acrescentou elementos extremamente danosos do ponto de vista da política cultural do Estado brasileiro e até hoje a gente paga o preço desse dano: a idéia de que o Estado também cria cultura.
A concepção do Estado getulista, um Estado “pai”, que ainda bebia na fonte positivista é a concepção de um estado formado. O Estado cria, formula e promove a cultura. Assim, a visão que todo cidadão brasileiro tinha que ter da sua história, até mesmo de como o Brasil foi descoberto foram impressas pelo Estado brasileiro através dos filmes de Humberto Mauro. Da mesma forma que no século 19, através da história do Vitor Meireles e do Pedro Américo. A produção cinematográfica de Humberto Mauro, promovida pela Era Vargas era a versão audiovisual das telas do Vitor Meireles e do Pedro Américo, portanto, continuou sendo uma visão autoritária, herdada do século 19, quando se tinha uma preocupação de criar uma noção de identidade nacional para as elites brasileiras.
Esse papel do Estado como produtor da cultura é um legado que considero ruim. É a contraparte da parte boa da Era Vargas que traduziu a visão de Mário de Andrade em 35. Mas Mário não tinha essa visão estatal, no sentido de o Estado ser produtor da cultura. O que marca o período Vargas é o fortalecimento do Estado, portanto, das instituições públicas na área cultural. E esse lado é bom, pois deu maiores condições para que o Estado alcance um espectro maior da população brasileira.
Por exemplo, a Rádio Nacional foi talvez o mais importante veículo na construção da unidade nacional da primeira metade do século 20. Embora a Rádio Nacional funcione com força até o período dos militares, que pouco a pouco foram a destruindo. A chegada da tv nos anos 60 também contribuiu para o enfraquecimento da Rádio Nacional. Porém, ela teve a função fundamental de permitir acesso à produção cultural brasileira às massas, de uma forma muito ampla, como jamais houve no Brasil. Na Amazônia, por exemplo, aonde a Rádio Nacional chegava com ondas curtas e levando o samba, a radio novela, enfim, uma série de informações culturais importantes, mas ao mesmo tempo carregava essa imposição de uma visão monopolizada pelo Estado do que seria cultura brasileira.
LB – Havia claramente uma necessidade de se criar uma nova identidade nacional com base na questão da integração.
MM – Exato. E por isso que a gente vê expressa nessa política do Estado autoritário do Vargas, tanto aquela questão do povo, da cultura popular. O movimento do folclore, surgido nos anos 20, na Era Vargas ganha um contorno imenso. A campanha nacional do folclore é expressão disso.
Ao mesmo tempo há a questão da música brasileira, do samba, das raízes. Villa-Lobos foi uma das pessoas que trabalhou nesse período para o governo, além do Humberto Mauro. Foi o Villa-lobos que implantou no sistema educacional o canto nas escolas públicas. Ele teve um papel muito maior do que a gente imagina hoje na constituição da identidade nacional no século 20, pois ele colocou a música dentro da escola. O canto lírico, o canto orfeônico, os cantos populares, os corais, isso tudo se propagou pelo Brasil a fora. Inclusive, O Villa-Lobos formava quadros, maestros e músicos que vinham das mais variadas regiões do Brasil para o Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Música. Essas pessoas voltavam às suas regiões, imbuídas de uma função quase que missionária de salvar a cultura brasileira original e suas expressões autênticas.
Por exemplo, eu conheci um maestro paraense – minhas referências são paraenses, pois eu sou do Pará – chamado Adelermo Matos. No final dos 90, ele faleceu com 90 anos. Ele era professor de canto orfeônico na escola pública do Pará em Belém, desde os anos 40, 50 e foi aluno de Villa-Lobos. Então, essa história que eu contei, é porque ele me contou pessoalmente. A maior obra de Adelermos Matos – e eu sei disso, pois na época eu era secretário de cultura em Belém – seu maior sonho, que foi publicado ainda antes dele morrer, foi um trabalho fruto de uma viagem pelo interior do Pará em que ele recolheu músicas populares tradicionais, copiou e escreveu as partituras. Foi Adelermo quem compilou o lundu, o carimbó tradicional, o samba do cacete, o marambiré, enfim, todos esse ritmos populares da região amazônica, da embocadura do Rio Amazonas, do baixo Amazonas,do baixo Tocantins, Marajó. Hoje todo mundo ouve o carimbó e é devido ao trabalho que Adelermo fez, um trabalho pessoal. Não é a toa que o Pará tem uma cena musical fortíssima hoje. Aí você descobre que muita coisa é efeito lá da política da Era Vargas.
LB – Existe ali também um trabalho em cima dos heróis nacionais, de resgate desses artistas importantes, da identidade.
MM – Sim, alías – e eu que sou da Amazônia e gosto muito de falar disso – esse é um ponto que atravessa todo o período romântico, passa pelo modernismo e chega a Era Vargas. E talvez continue hoje com a questão da biodiversidade, a Amazônia como fator de construção de uma identidade nacional. Hoje em dia fala-se muito sobre a Amazônia como fornecedora de matérias primas, mineral, vegetal etc. Mas durante muito tempo Amazônia foi fornecedora de matéria prima simbólica para a construção da nacionalidade. Os românticos, Gonçalves Dias e José de Alencar são exemplos. E depois o Macunaíma. O que é Macunaíma senão uma reinvenção que o Mário de Andrade fez a partir da leitura dos viajantes, dos índios de Roraima etc. O Villa-lobos também, com uma série de referências do Amazonas.
Ainda na Era Vargas, temos um período, que eu interpreto como um período intermediário, reflexo da própria situação política brasileira, que vai dos anos 50 até 68. Nesse período todo, nós temos pela primeira vez na história republicana, um clima democrático no Brasil, onde as instituições democráticas se consolidaram mais, onde o desenvolvimento tecnológico das comunicações avançou com a televisão, com o Brasil se tornando um país definitivamente urbano, com suas classes médias trabalhadoras crescentes, com uma indústria consolidada do ponto de vista da política econômica que foi desenvolvida no Brasil período.
Esse foi um período muito rico em que nós tivemos pela primeira vez a presença do Estado combinada com a presença da liberdade de expressão cultural de uma forma ampla e com capacidade de alcance muito grande. Não é a toa que foi nesse momento que surgiu a obra de Guimarães Rosa, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, os grandes poetas do anos 50, a bossa nova de Vinicius de Moraes, a inovação da arquitetura brasileira com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Esse “boom” de invenção criativa que surgiu no Brasil naquela época era fruto do clima proveniente daquela geração assentada do período anterior – mas que tinha liberdade e estrutura institucional.
Havia o DIP, Departamento de Imprensa e propaganda no período Vargas, que era muito problemático mas ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, centro cultural do Brasil, os cassinos eram os grandes centros de difusão da música. Carmem Miranda, por exemplo, se lançou para o mundo no Cassino da Urca. Havia uma lei que dizia que tinham que ser músicos brasileiros tocando nos cassinos. Getúlio fazia leis de proteção ao mercado cultural brasileiro. Era um período muito ambíguo, ao mesmo tempo em que tinha o DIP e a censura, tinha também esse tipo de proteção da cultura. Havia essa relação quase que pessoal. Então, essa ambigüidade forjou uma geração nova no período seguinte.
LB – Há uma coisa que eu não sei se você vai anotar aqui, mas que foi muito característico. Nesse período ocorreu um “boom” fenomenal da indústria. Por exemplo, a rede de televisão brasileira foi a segunda rede da América do sul. Só os EUA tinha uma rede até então. Claro que era projeto de Estado, mas possibilitou também o nosso período da época de ouro do cinema.
MM – Sim, esse período foi muito interessante por isso, pois esse “boom” misturou a modernização do Brasil econômico e industrial com a chegada das tecnologias de comunicação no Brasil, de forma muito rápida. Outra coisa interessante é que as pessoas que construíram aquilo tudo carregavam de forma emblemática esse movimento. Eram pessoas de vanguarda como Assis Chateaubriand, por exemplo, que iniciou a inserção do setor privado na política pública de cultura, através da criação do MASP. Chateau criou uma rede nova privada que envolvia tv e jornal, o modelo da Rede Globo.
Portanto, acho falta fazer uma análise mais profunda, com esse viés de política cultural, de como esse movimento todo influenciou as políticas públicas. Havia uma rede nacional nos anos 30, mas era uma rede diferente. O Chateau tinha em cada estado um jornal dos diários associados, no Brasil inteiro. E não era apenas “jornal”, pois naquela época o jornal tinha um papel diferente do de hoje – que enfraqueceu bastante. Nos anos 50, o Jornal do Brasil revolucionou o jornalismo brasileiro. Os jornalistas da época eram artistas, poetas, críticos, jornalistas literários. Hoje a literatura foi expulsa do jornal.
LB – Sim, a obra toda de Nelson Rodrigues foi feita no jornal.
MM – Exato. Mário Faustino é uma outra figura, cuja obra, hoje está sendo recuperada. Foi um período muito importante, pois havia em cada estado uma figura como essa. E esse período foi até 1968, compreendendo a tropicália e a bossa nova. O cinema novo tem uma relação direta com a tropicália.
Nesse momento nasce no Brasil uma indústria cultural privada, que tem a ver com Juscelino, com a nova visão de Brasil, a construção de uma identidade brasileira. Talvez seja um momento em que a estética ganha uma função no Brasil tão importante quanto a política. E nós perdemos muito disso com os militares. Foi um momento interessante por isso: a política estava atrelada à estética e a um projeto nacional. Brasília é expressão disso – não dá para separar estética de política. E isso tudo repercute internacionalmente.
A cultura brasileira, através da bossa nova, chega aos EUA. É um período marcado pela entrada da indústria na política cultural e mesmo assim, o Estado mantém sua posição, ou seja, as instituições do Estado não foram aniquiladas, mas reforçadas. O período da segunda guerra mundial até 1968, do ponto de vista da política cultural brasileira, foi o momento em que a sociedade, o mercado e a indústria entram em cena, mas sem que o Estado se abdique de seu papel.
LB – Curiosamente esse é um período menos citado
MM – Geralmente quando as pessoas falam de política cultural brasileira, pulam do Getúlio direto para os militares e esquecem que houve esse período riquíssimo. Talvez por só analisarem através da lente do Estado, pensando apenas desse ponto de vista.
Leonardo Brant
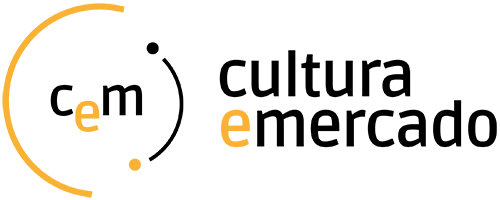
11Comentários